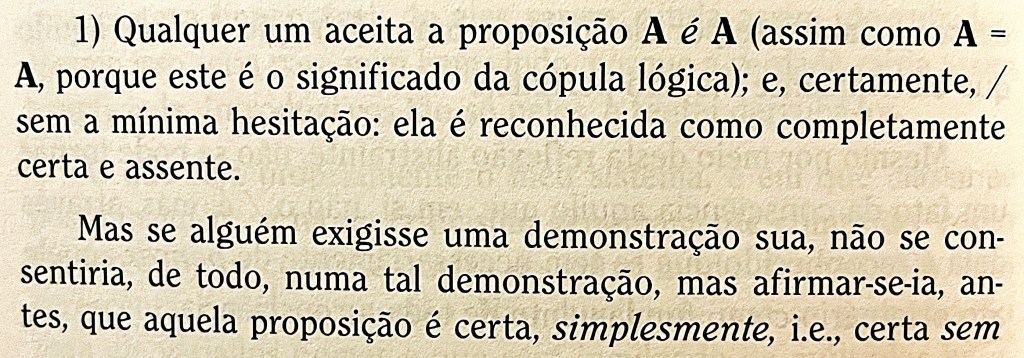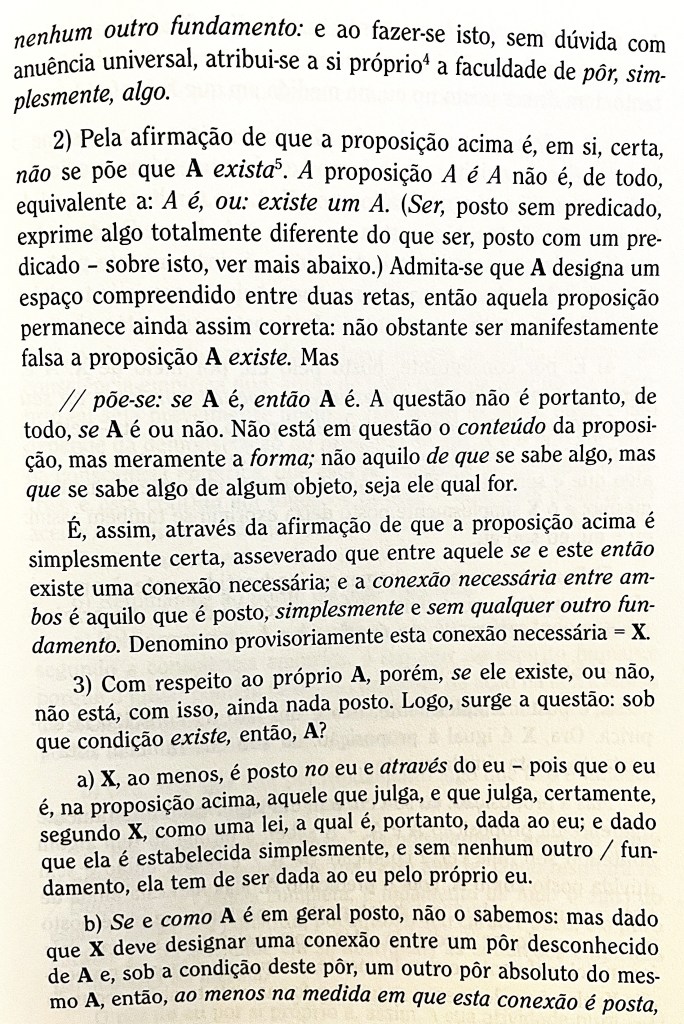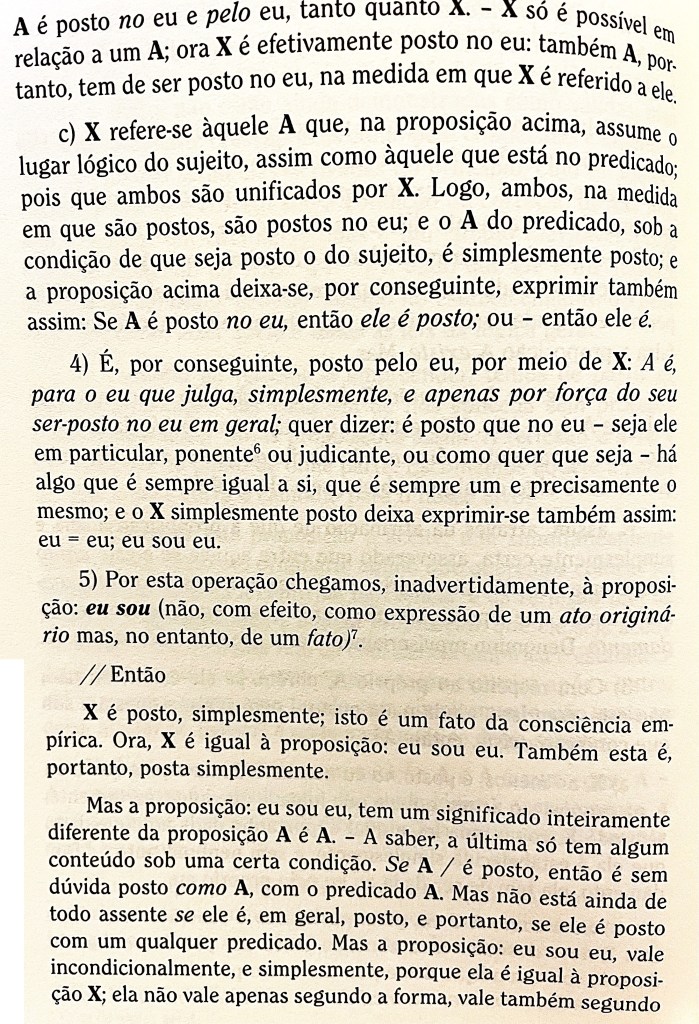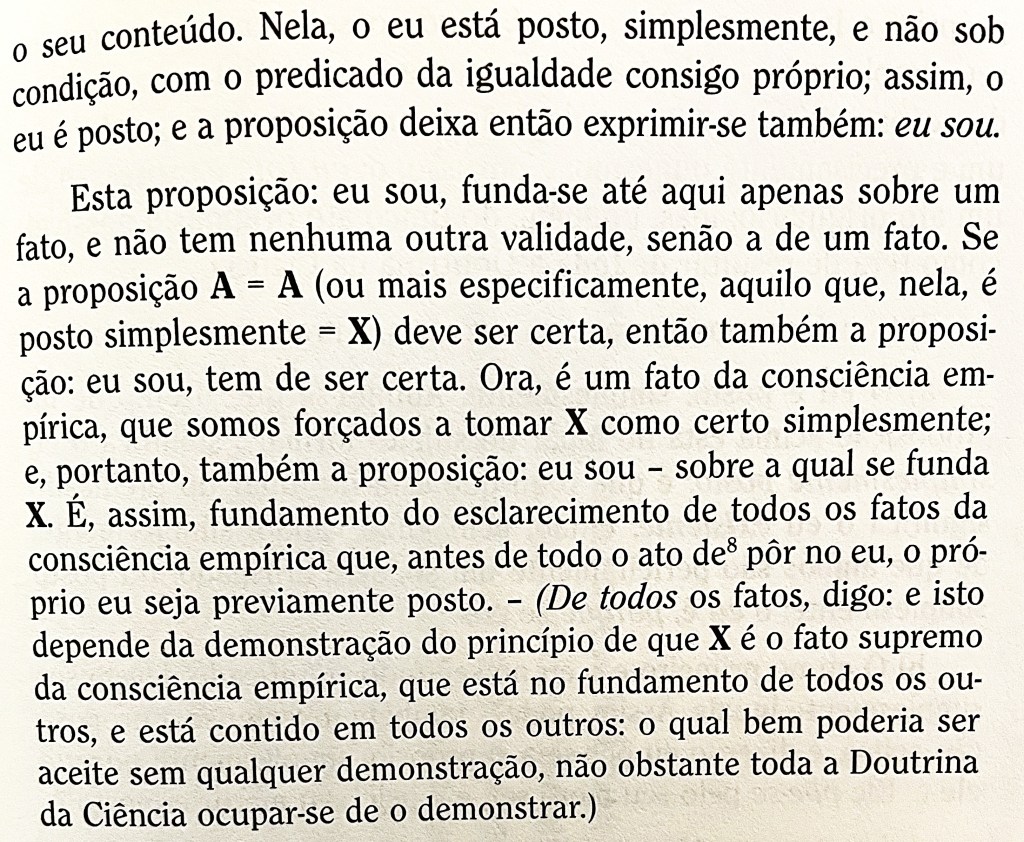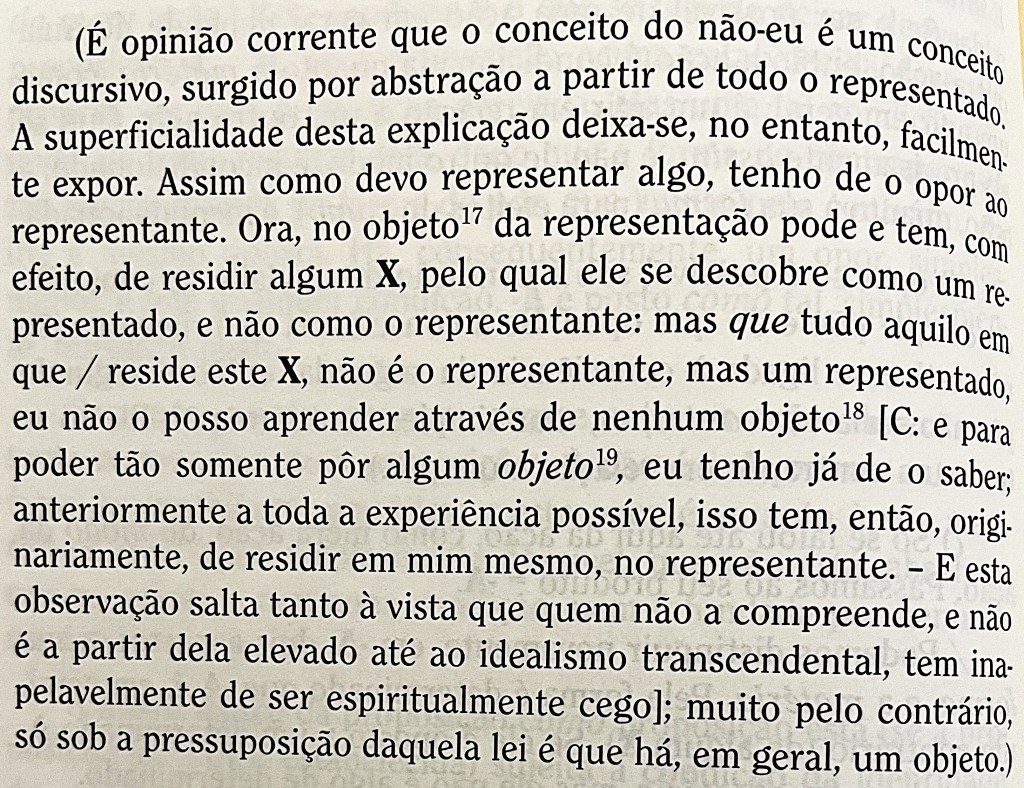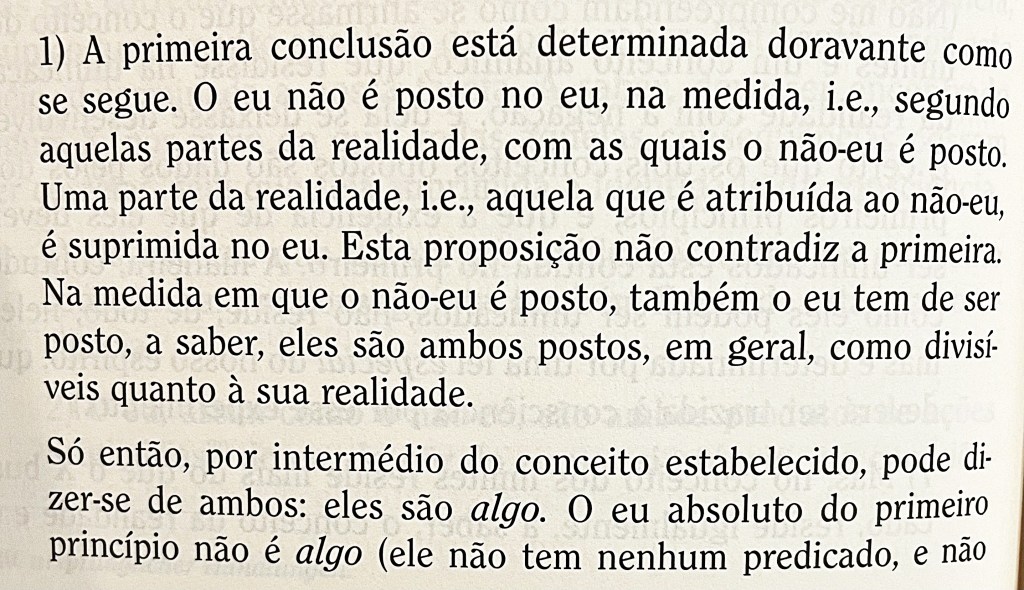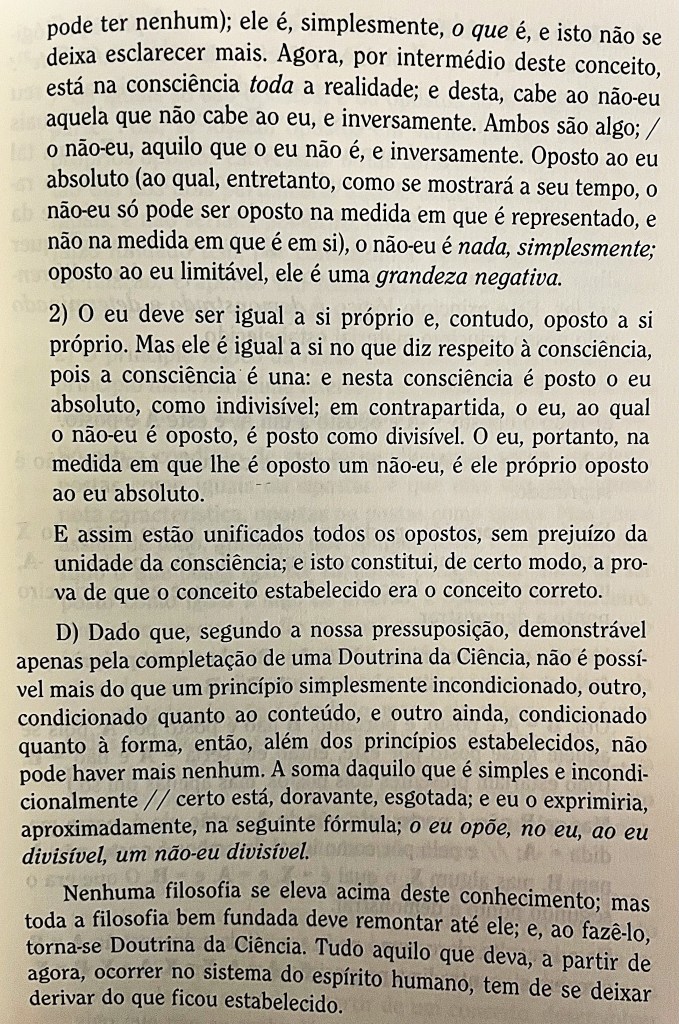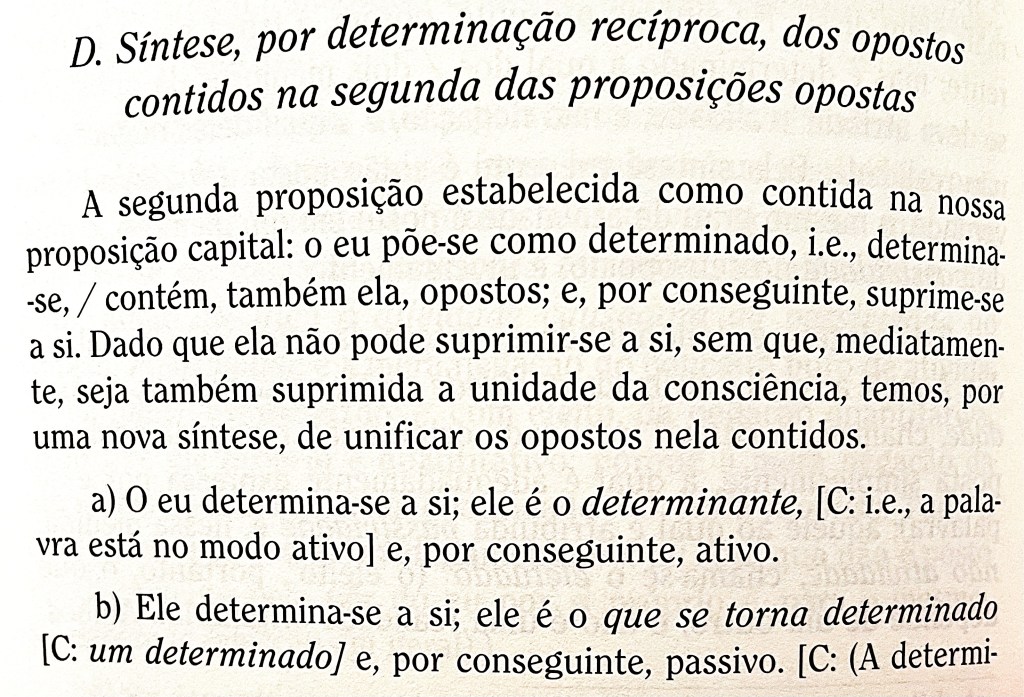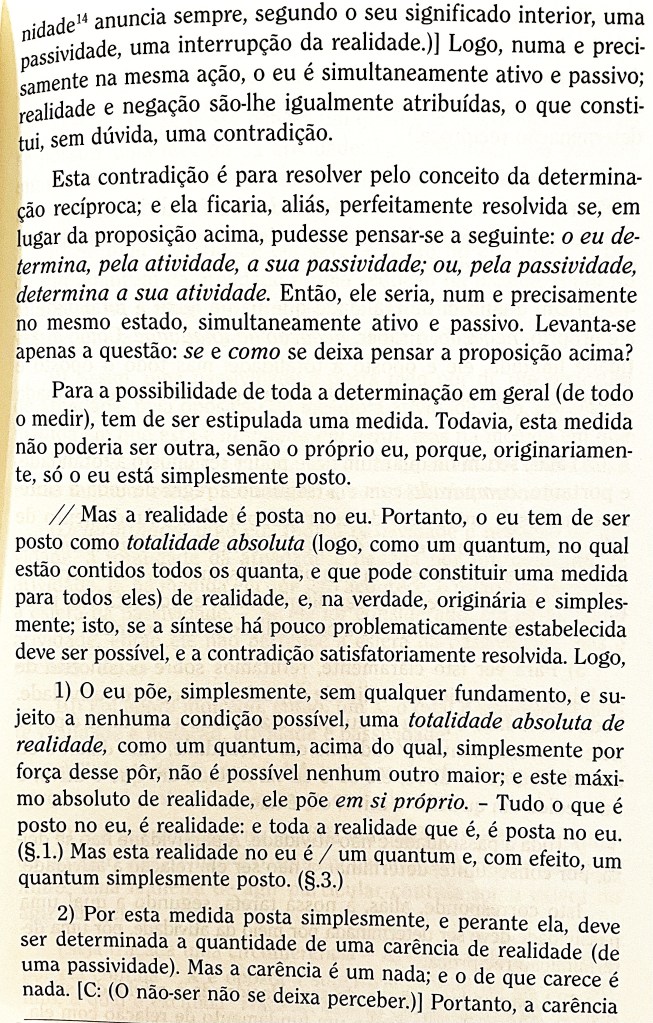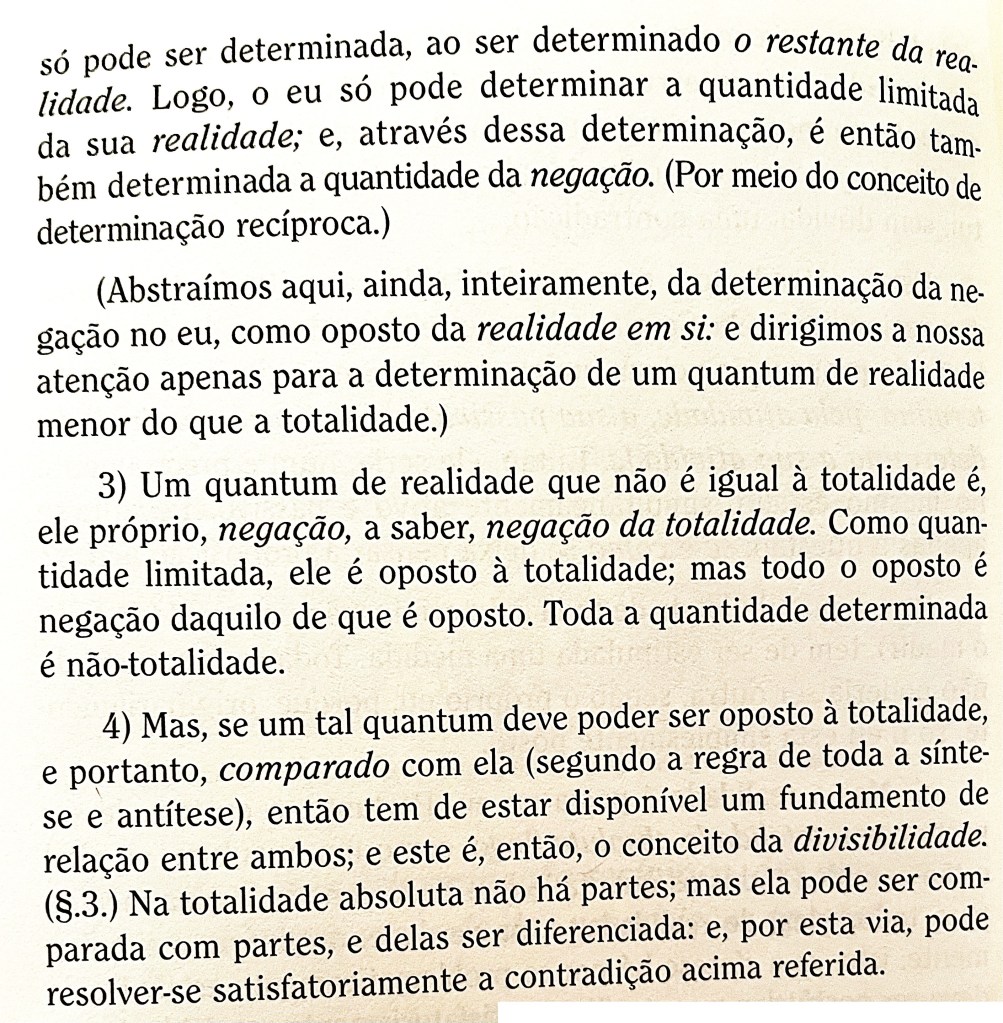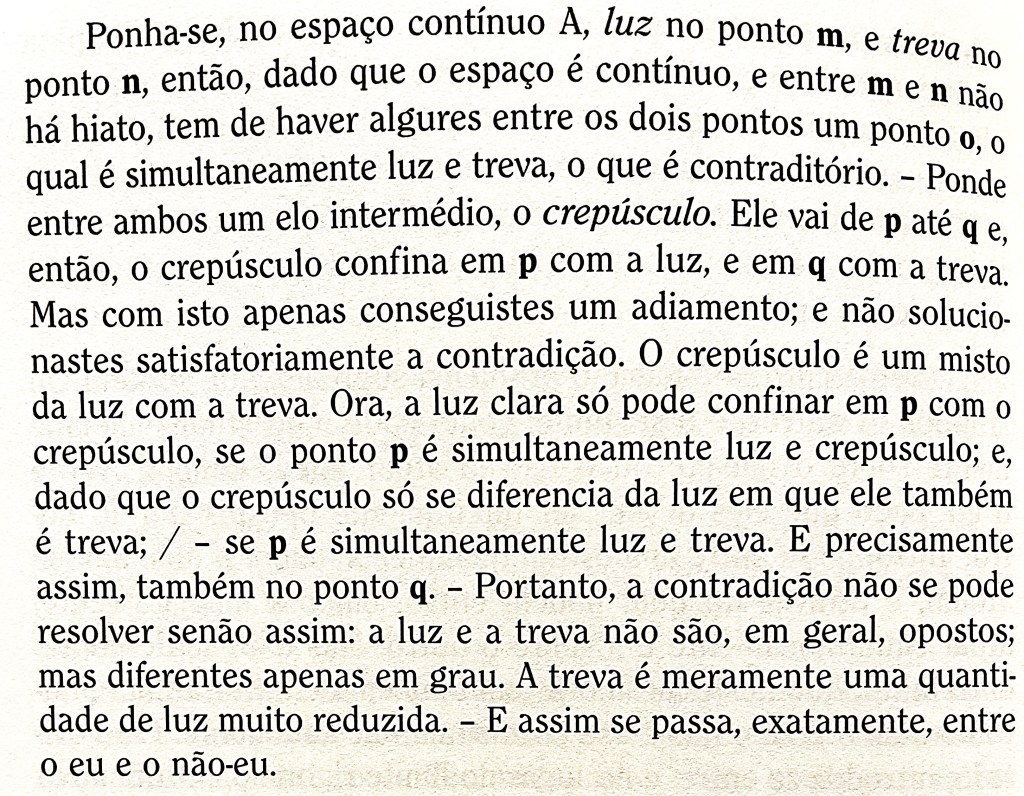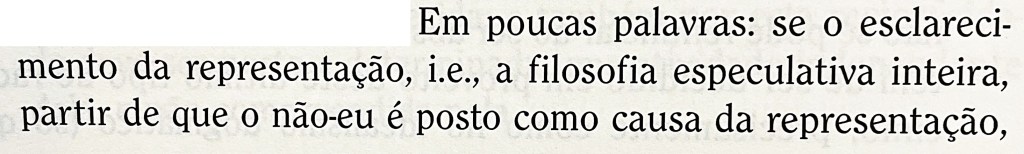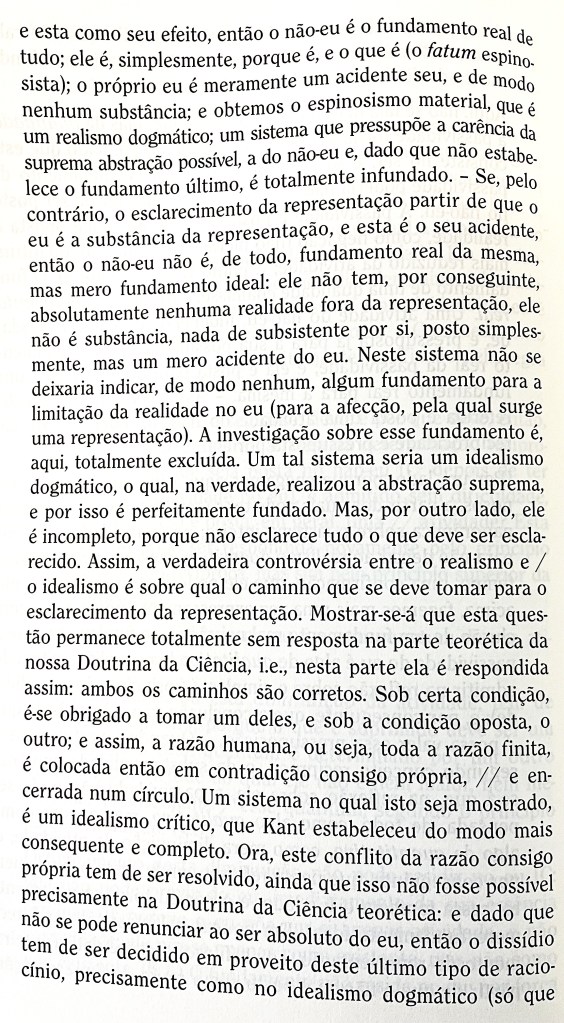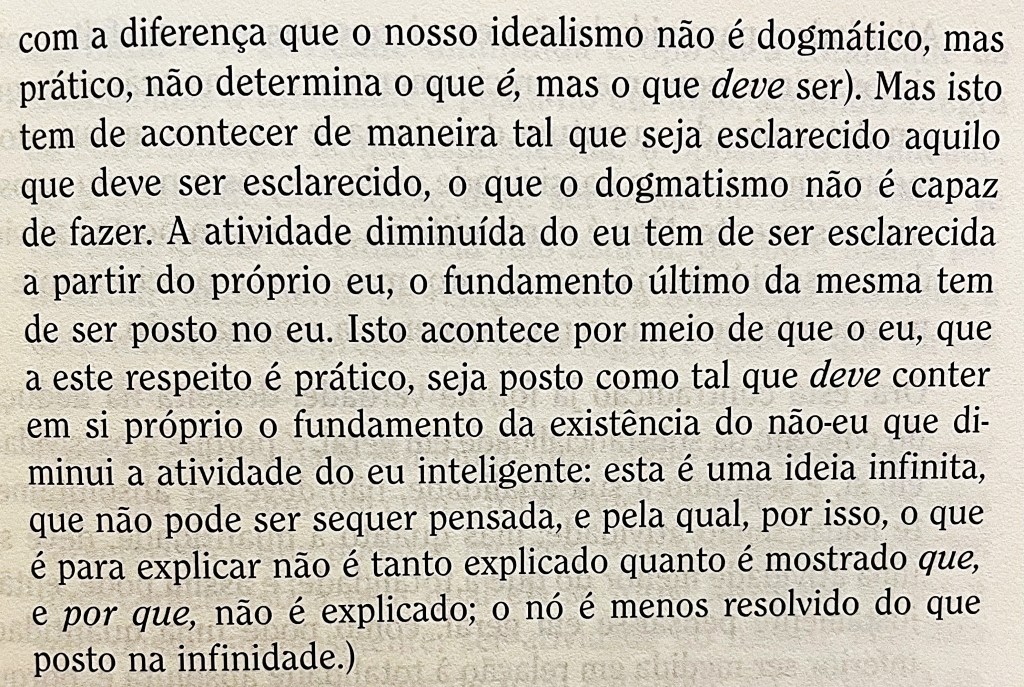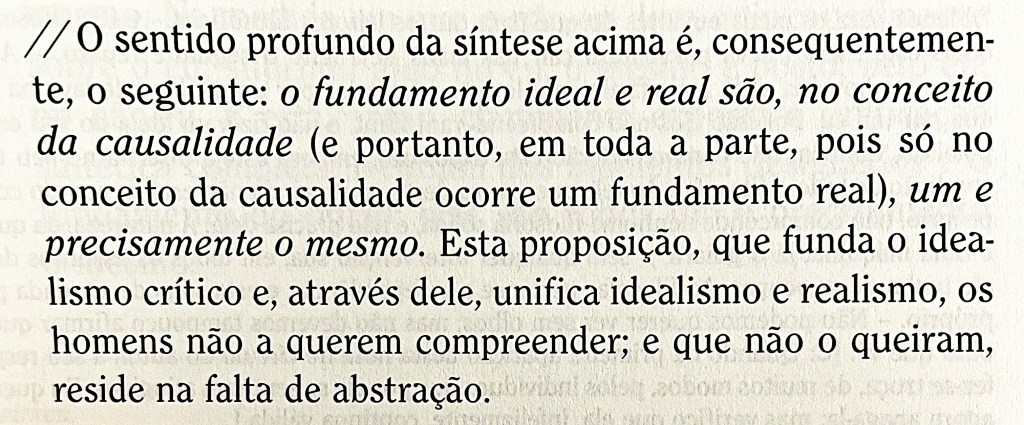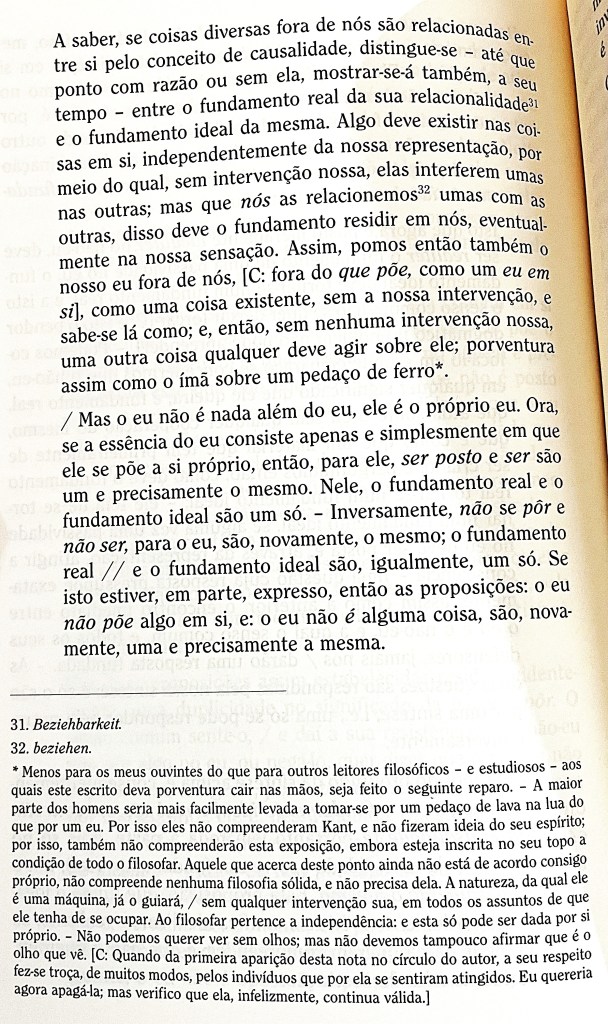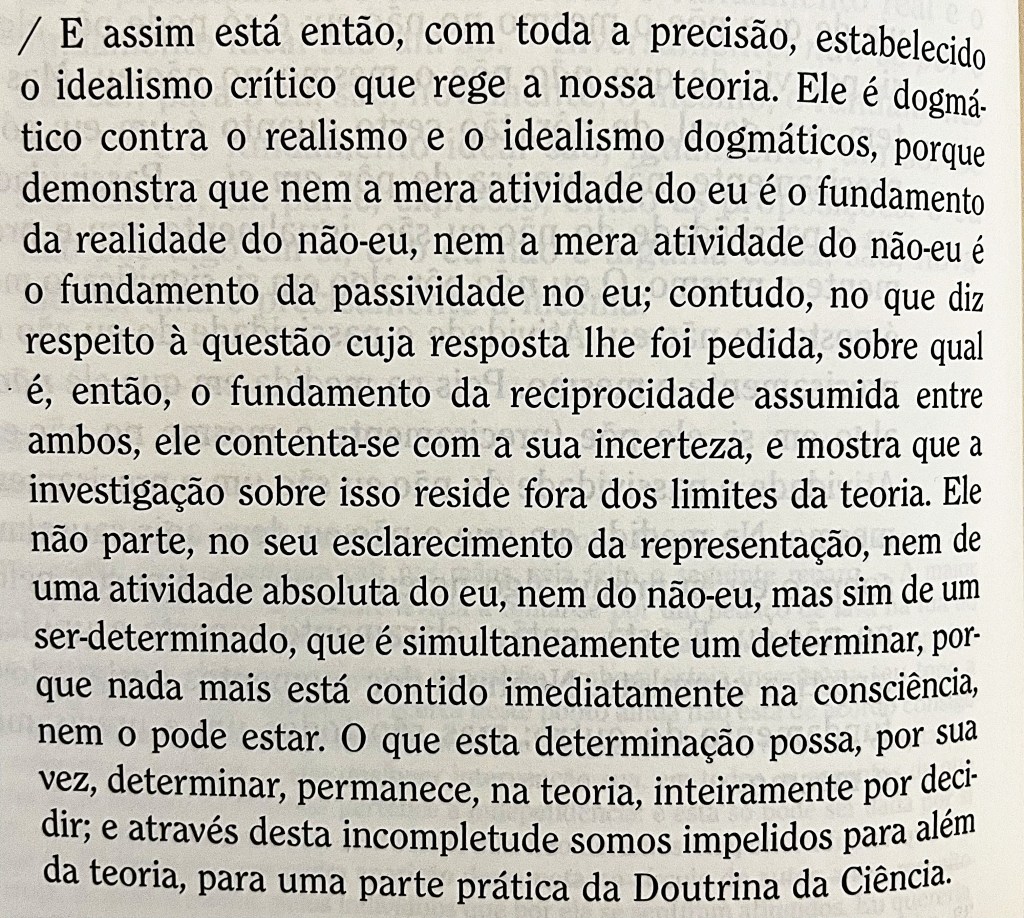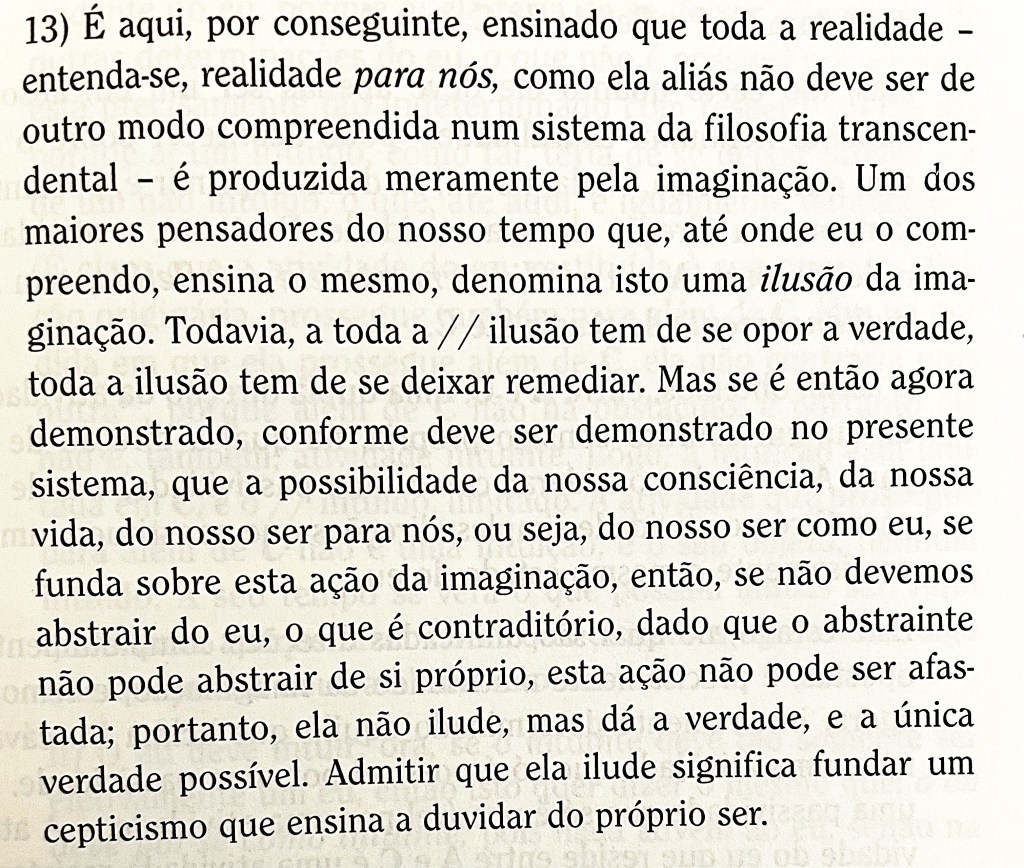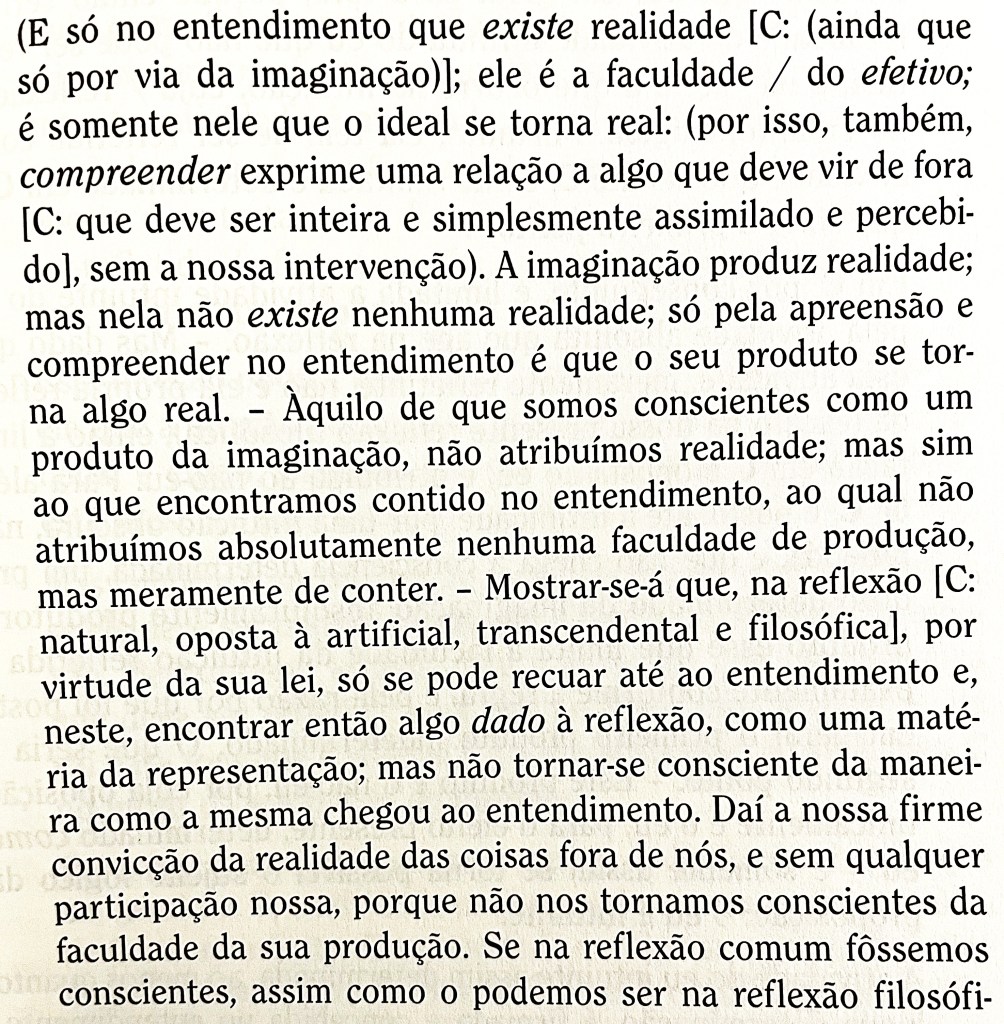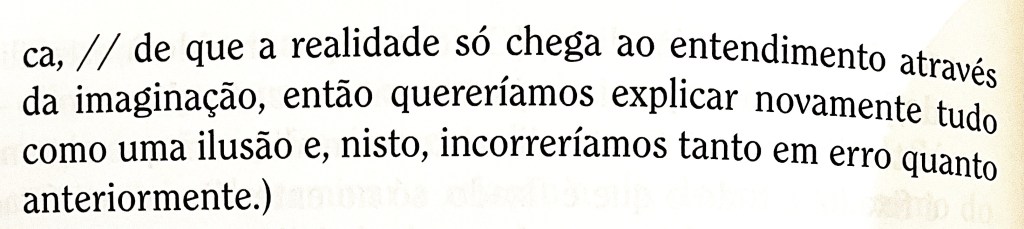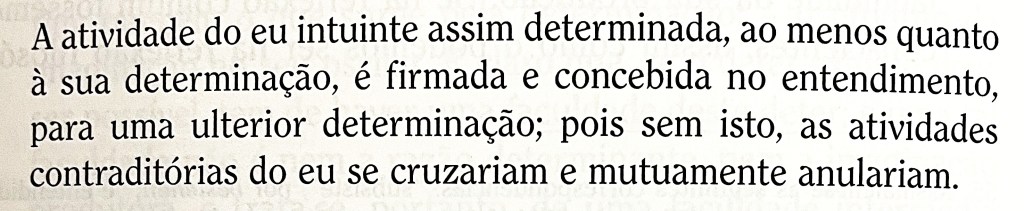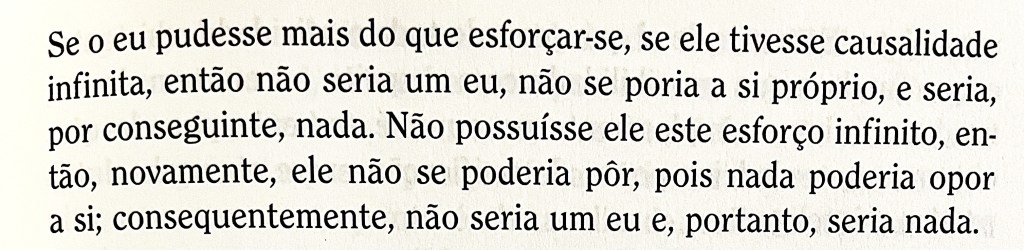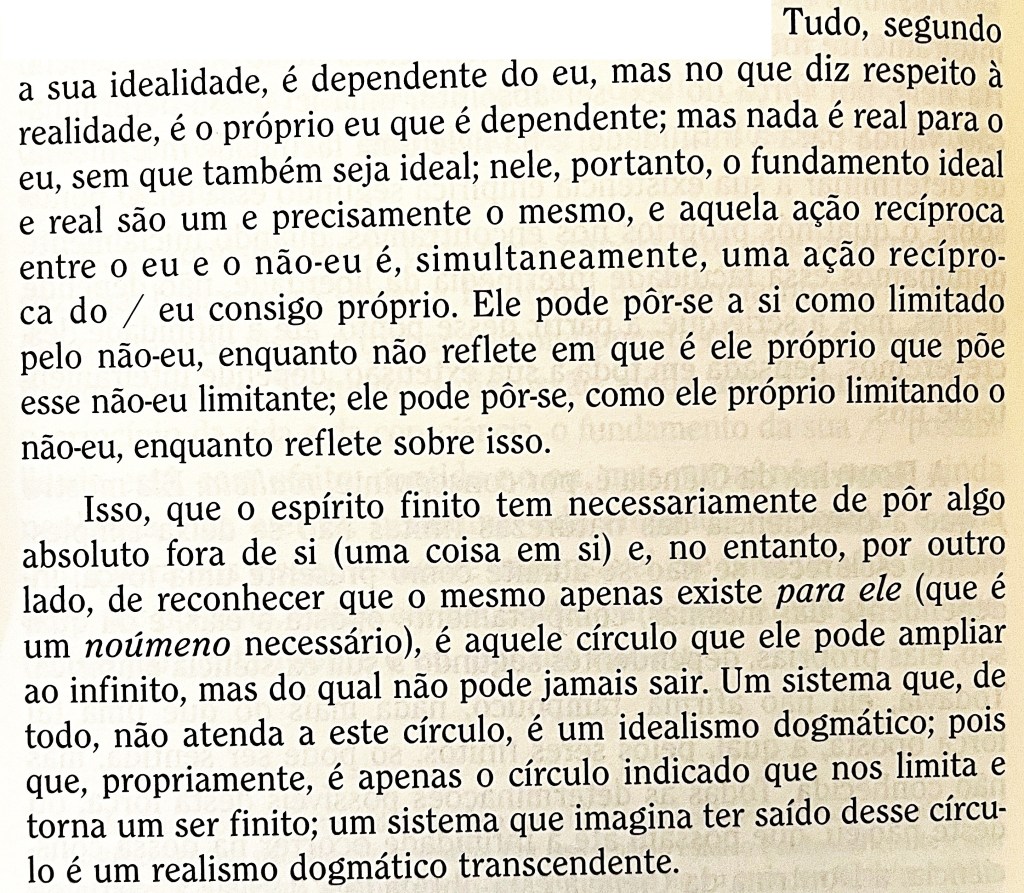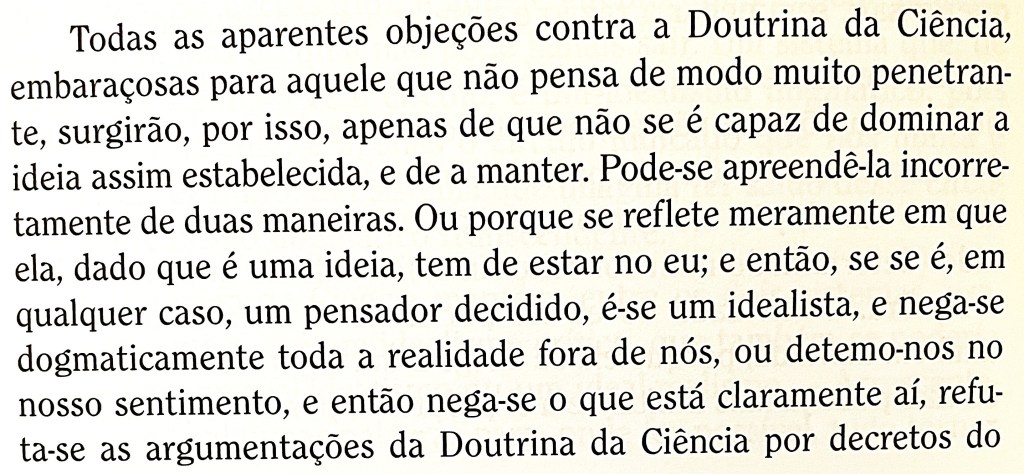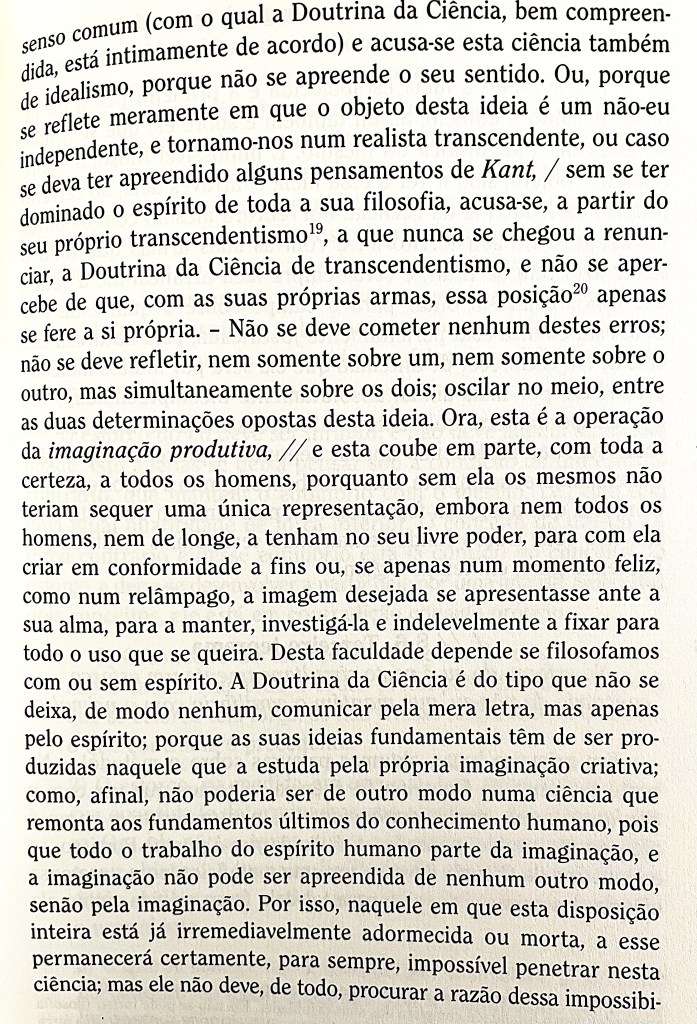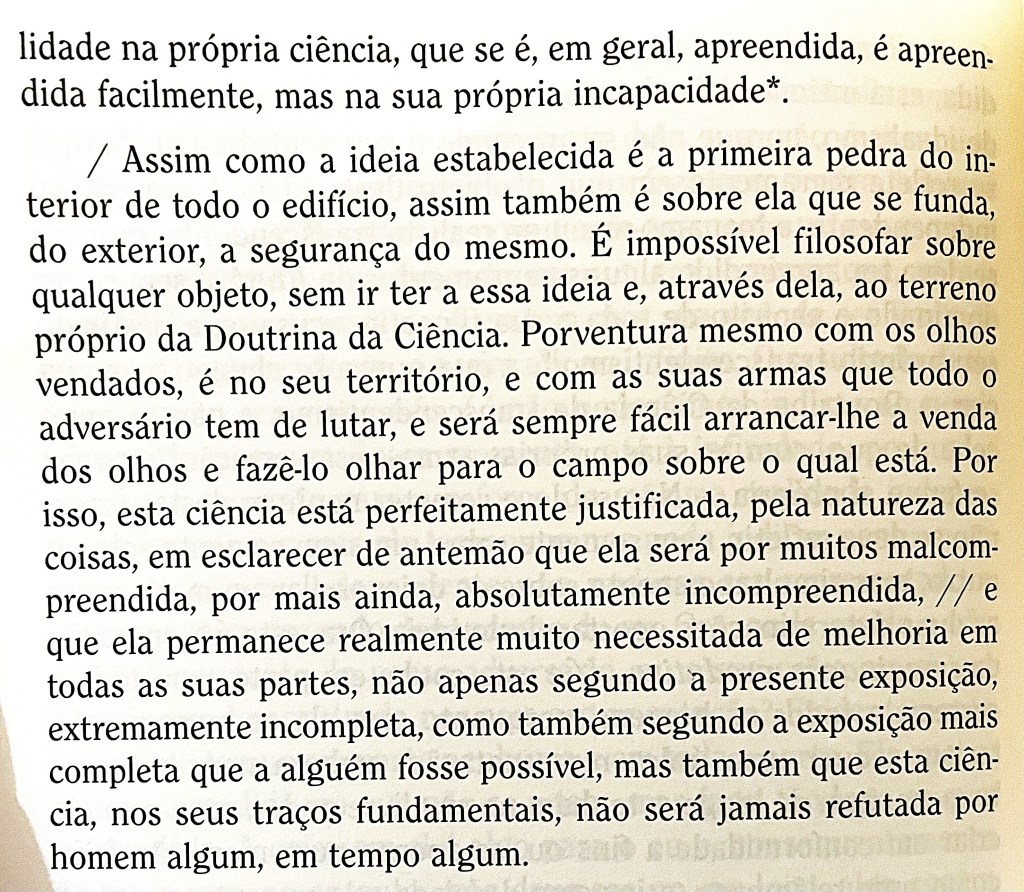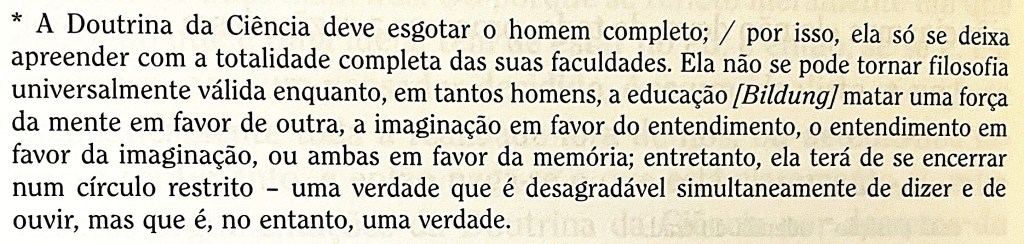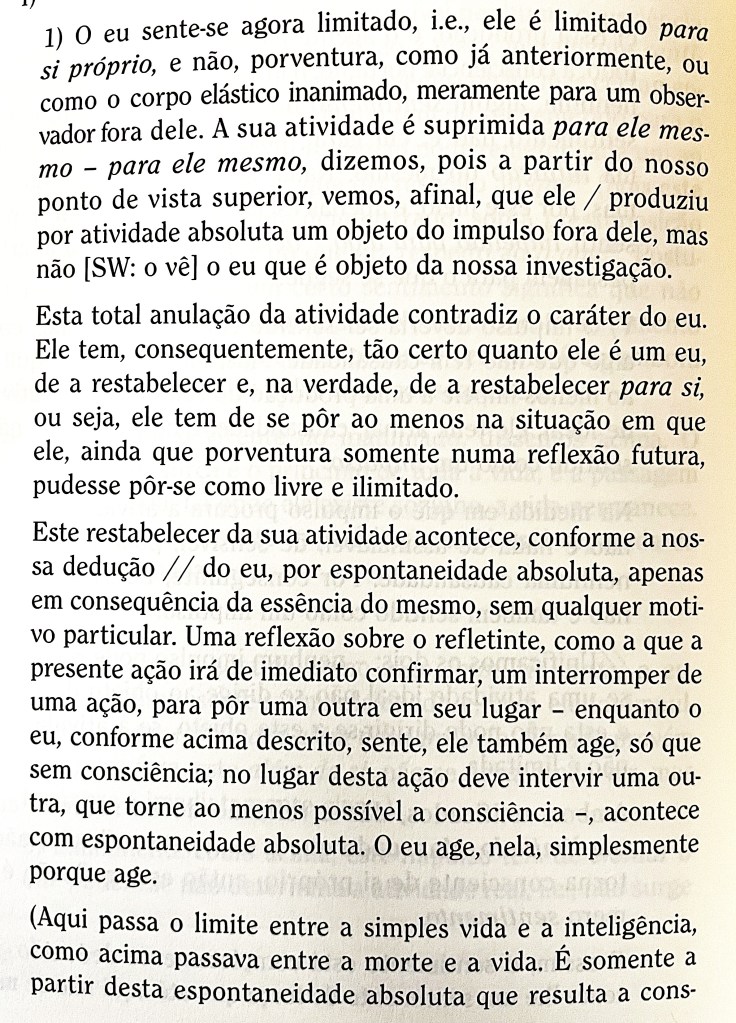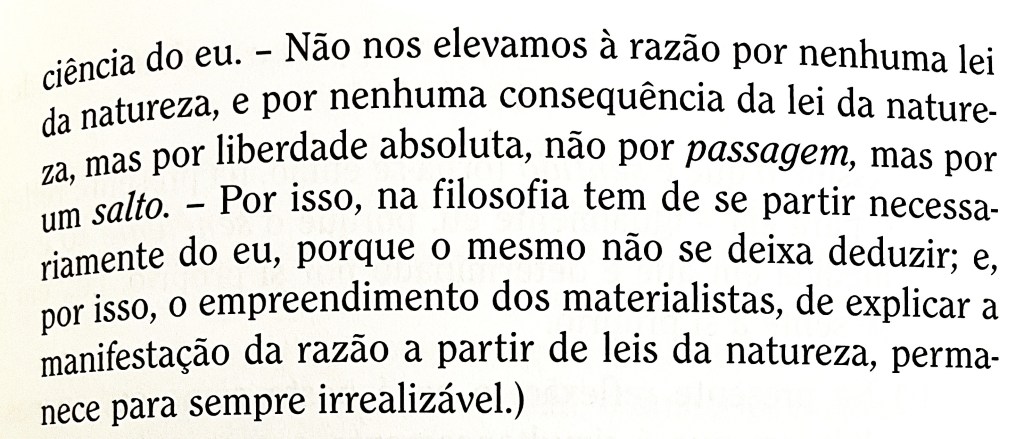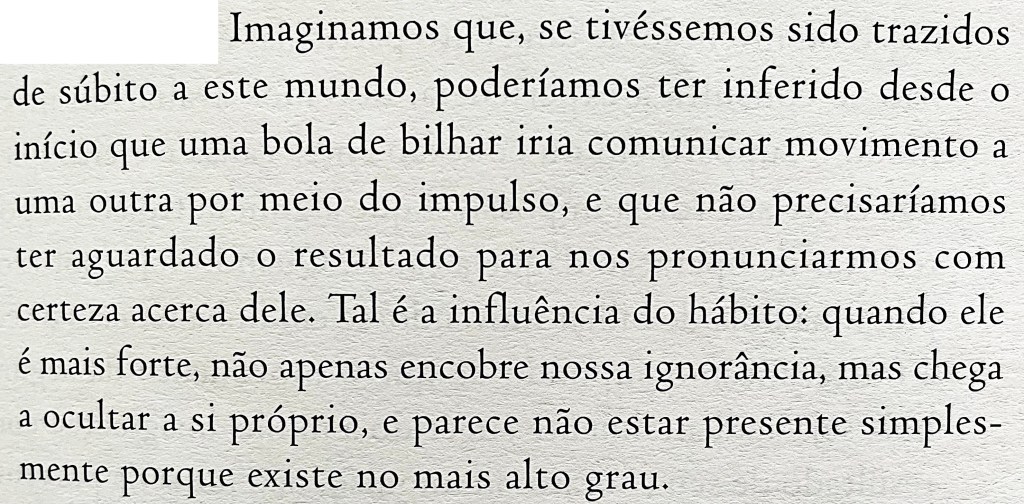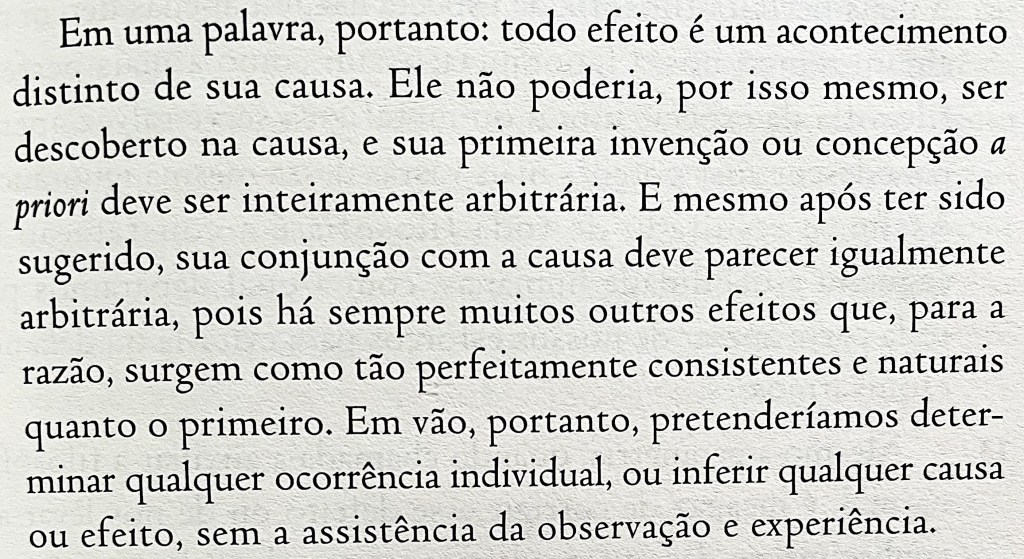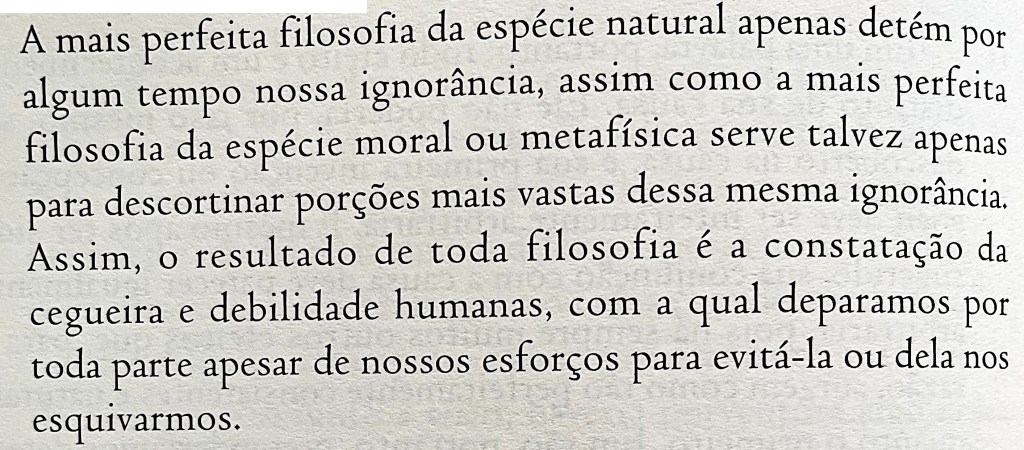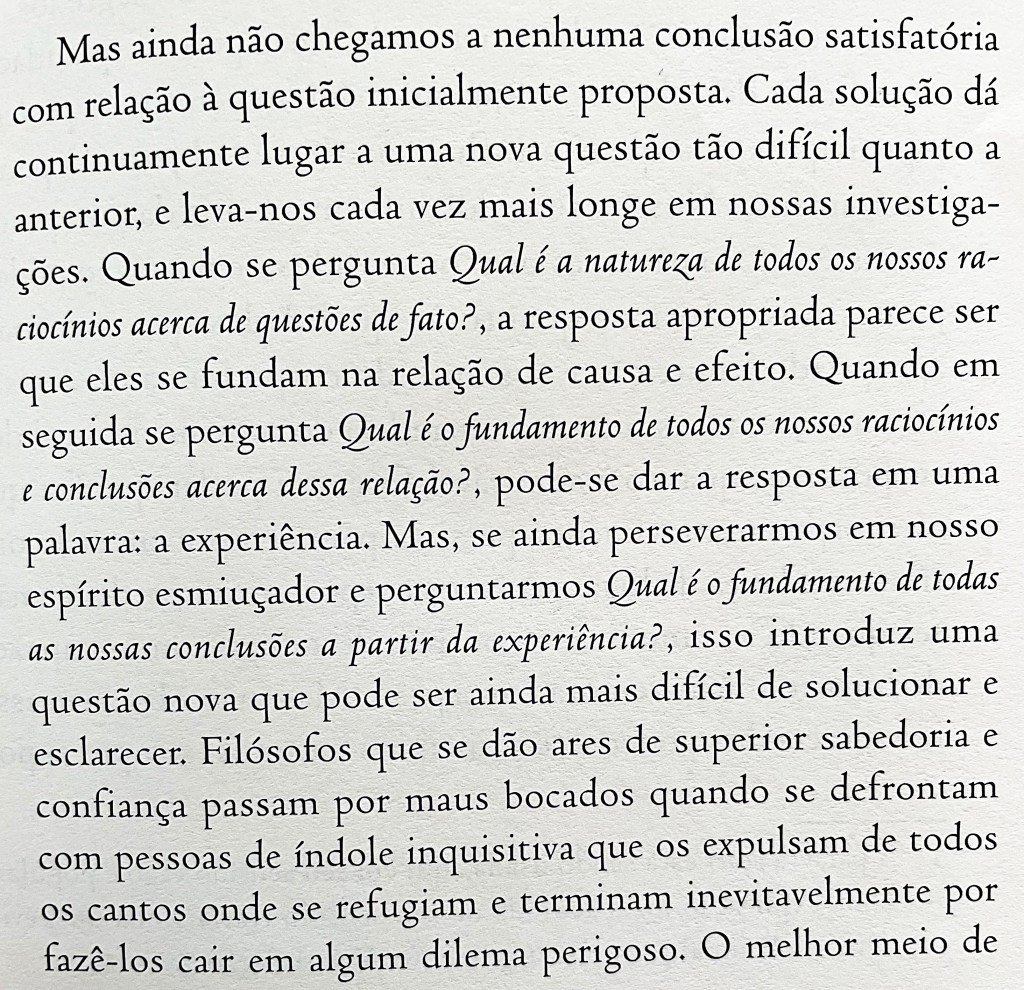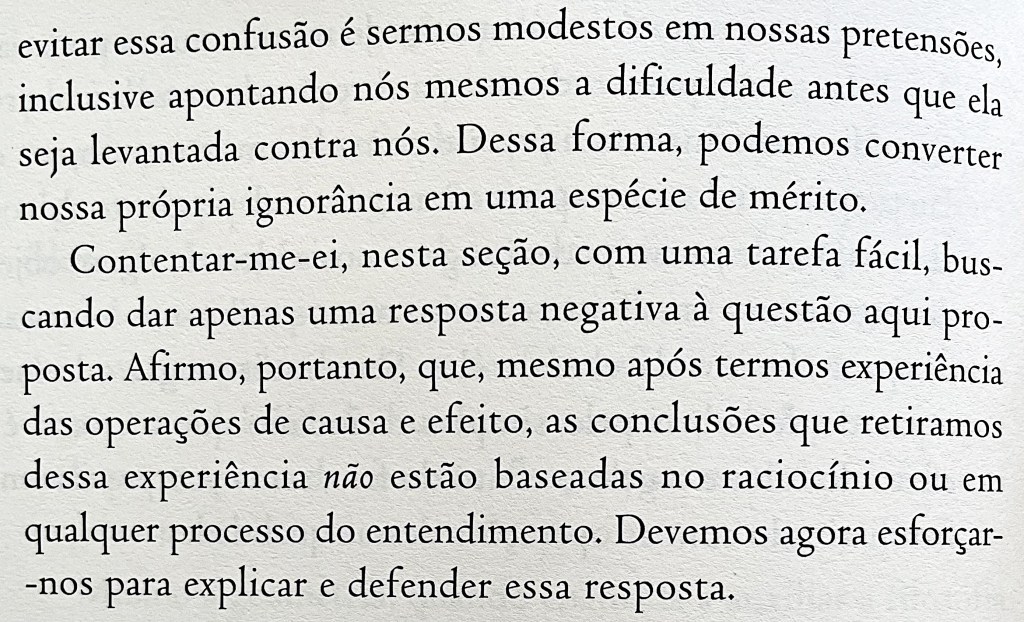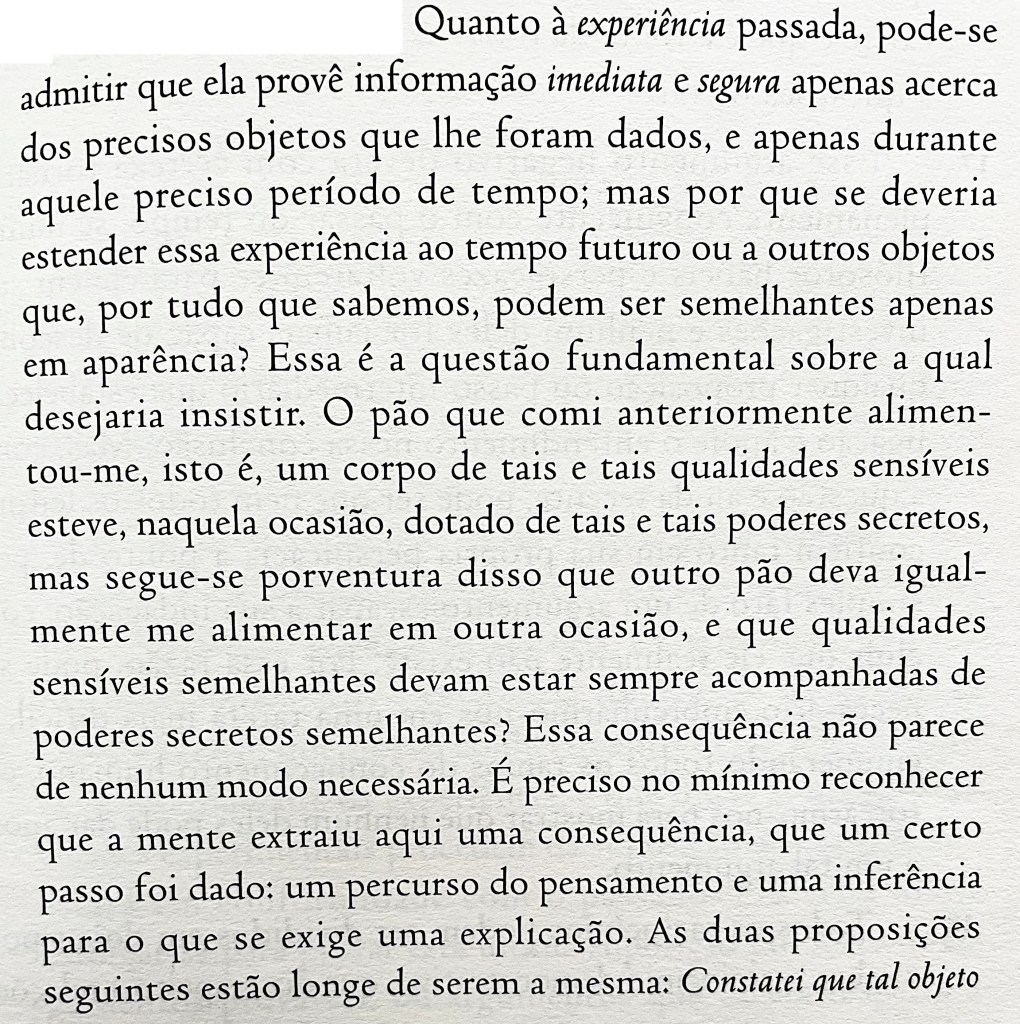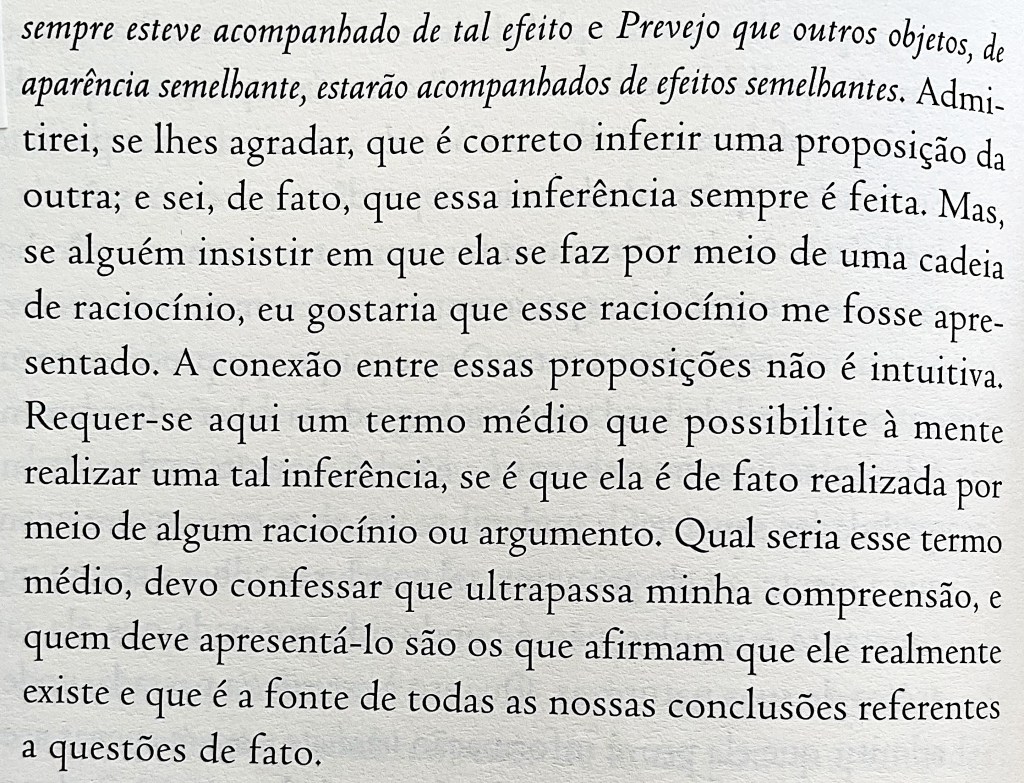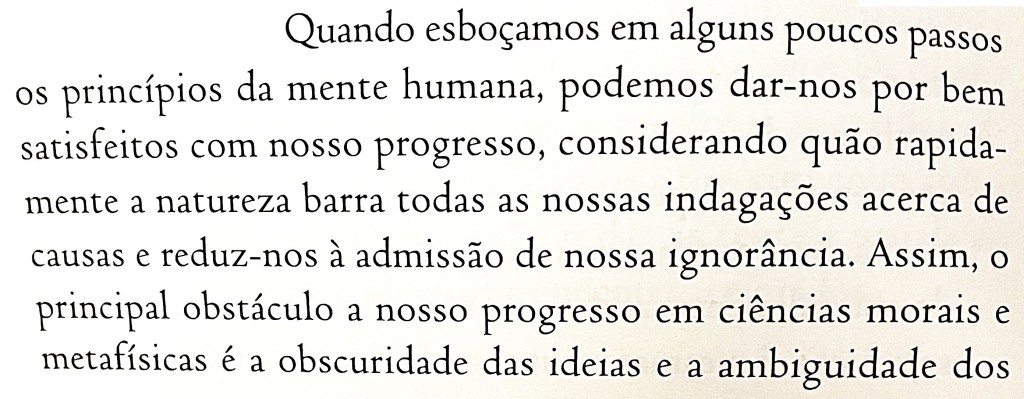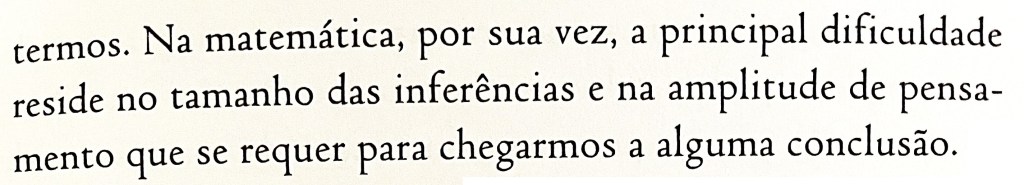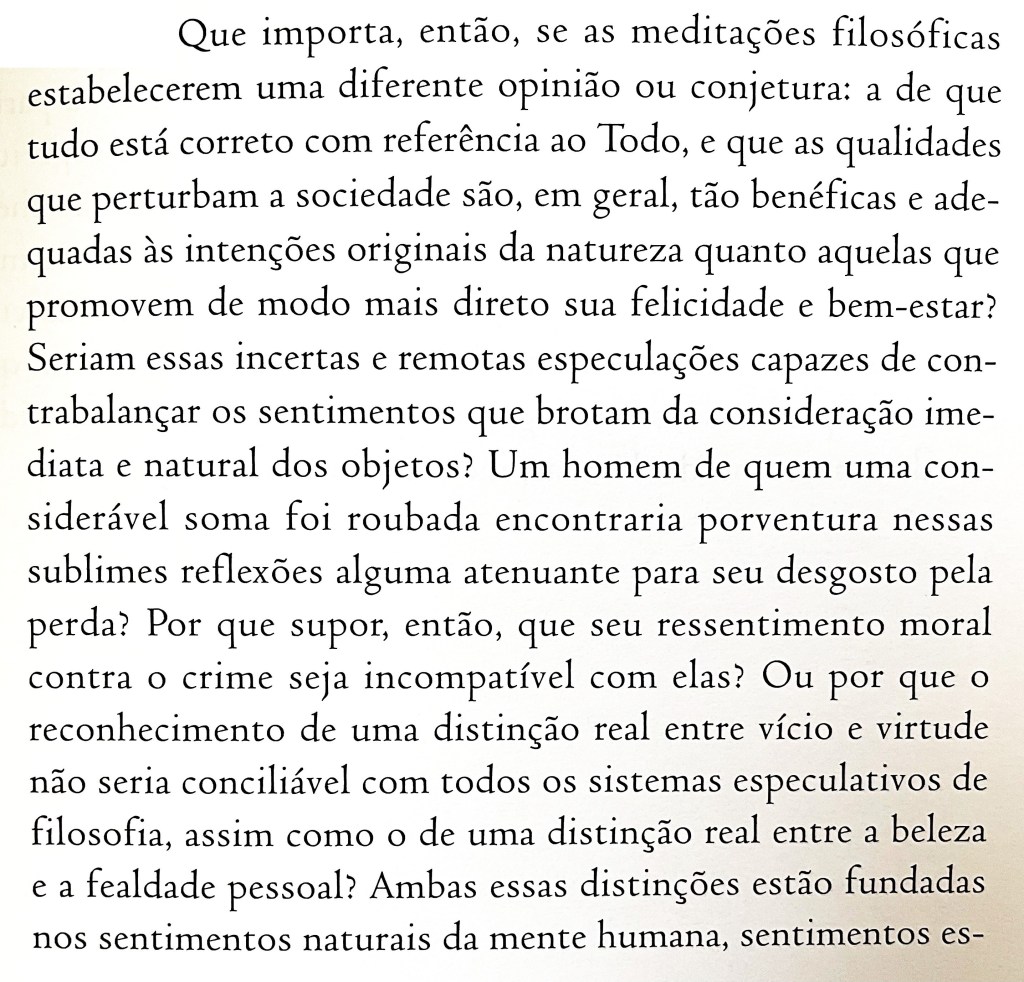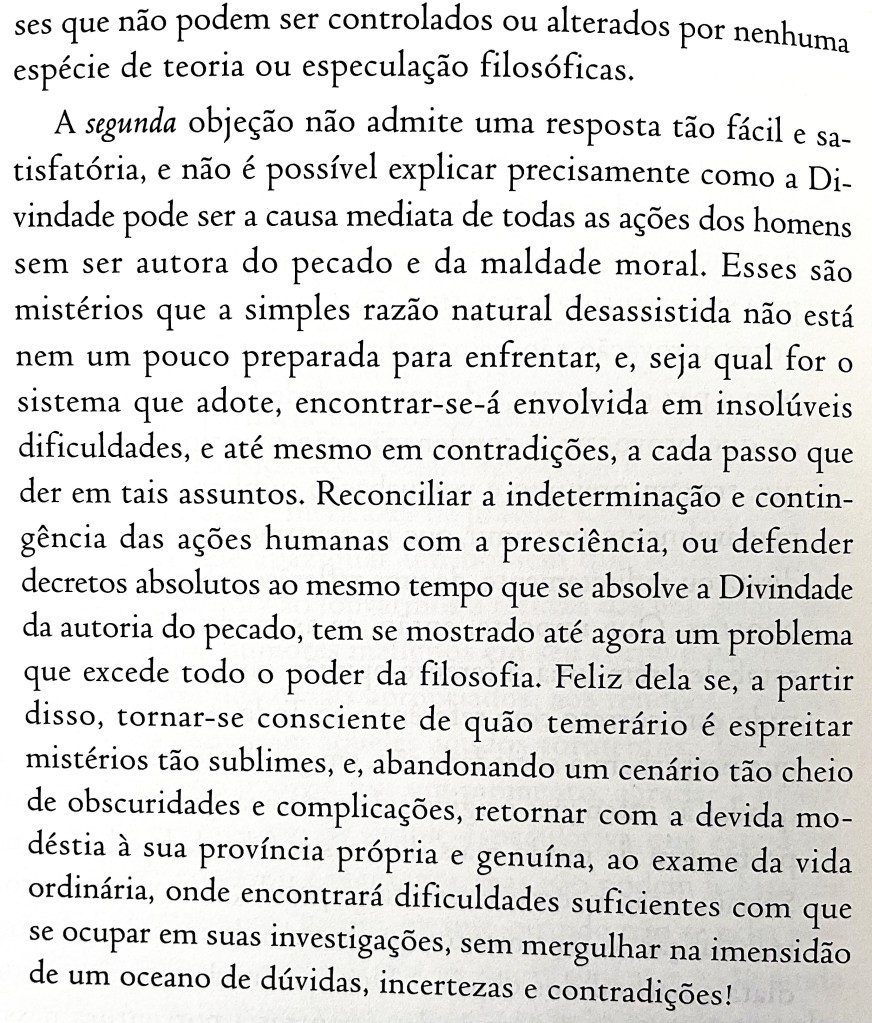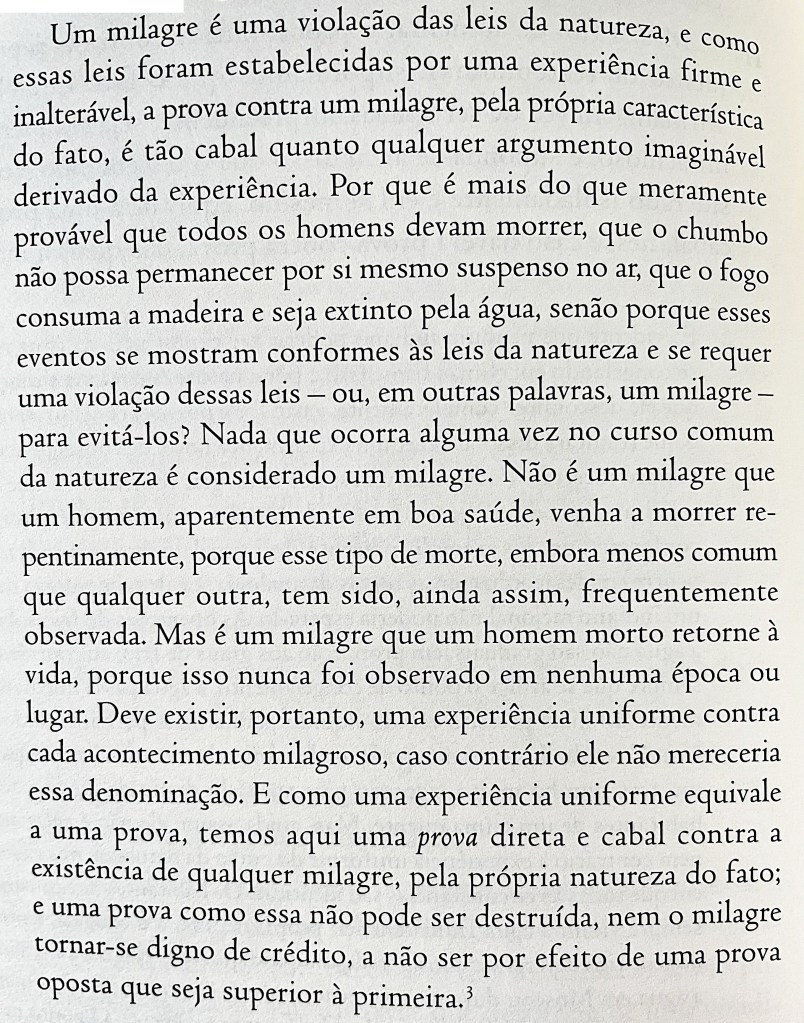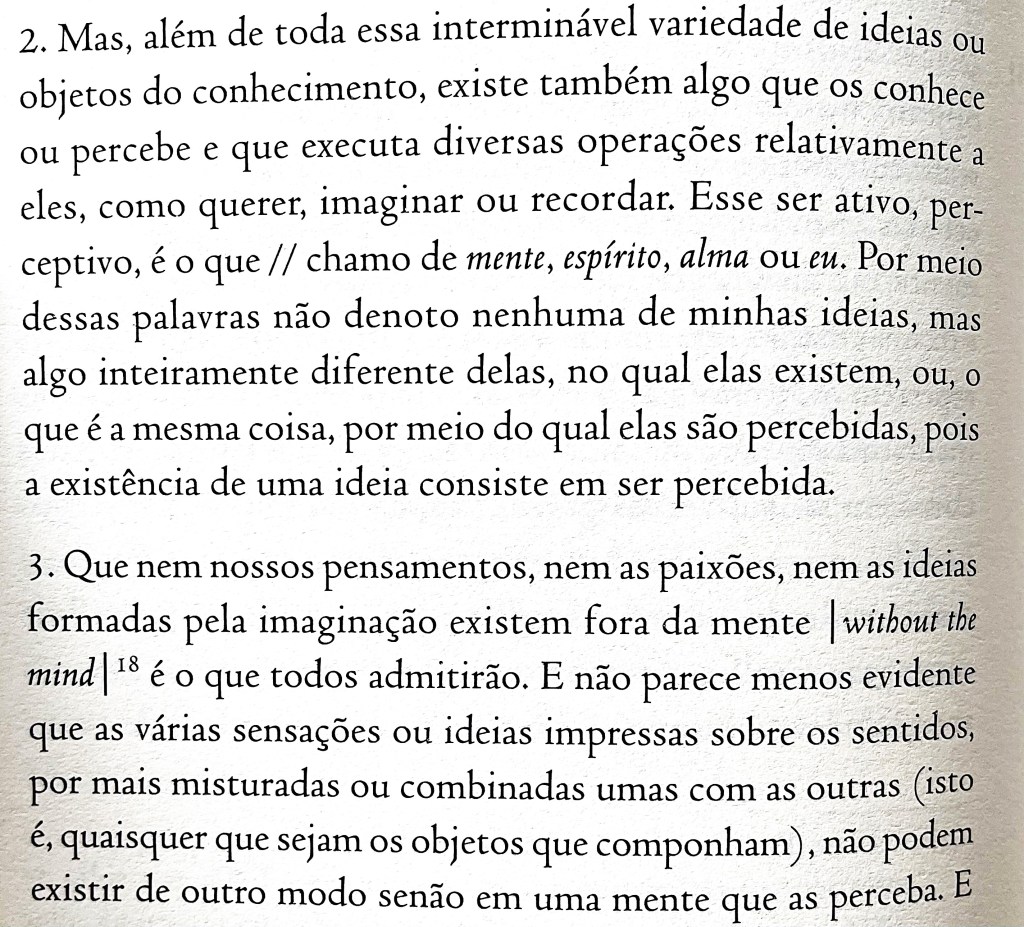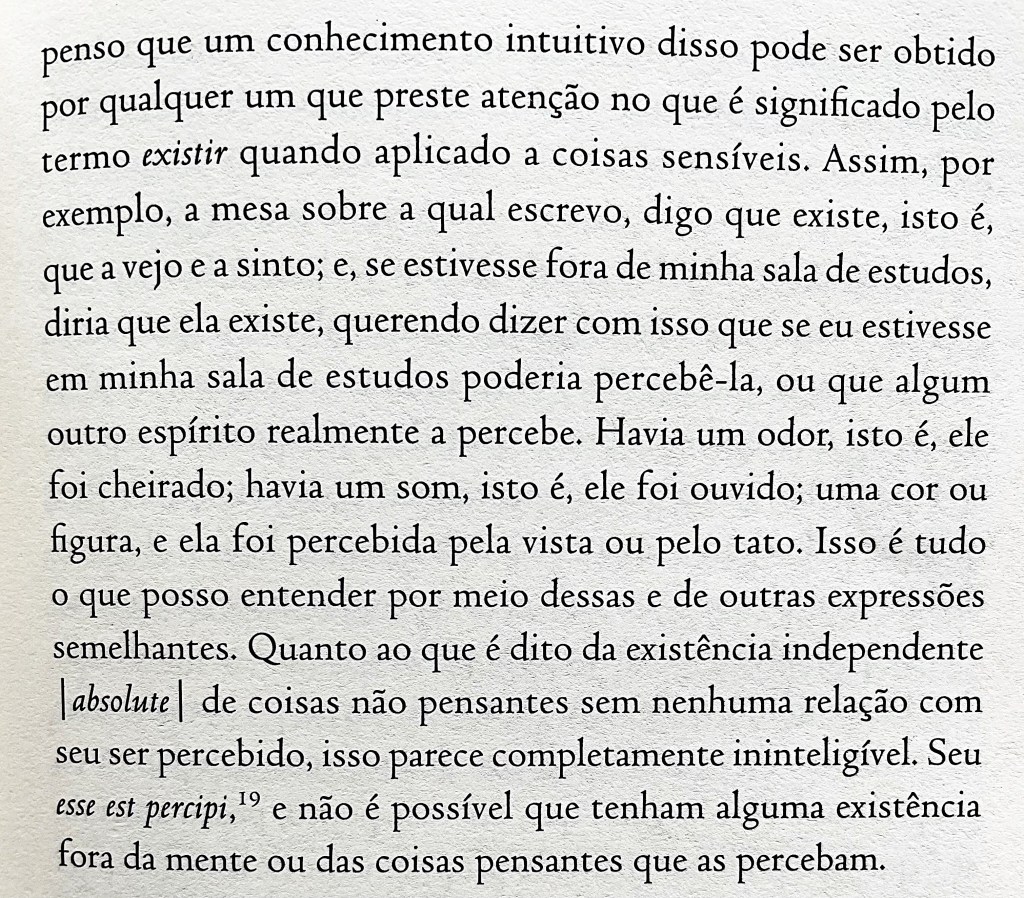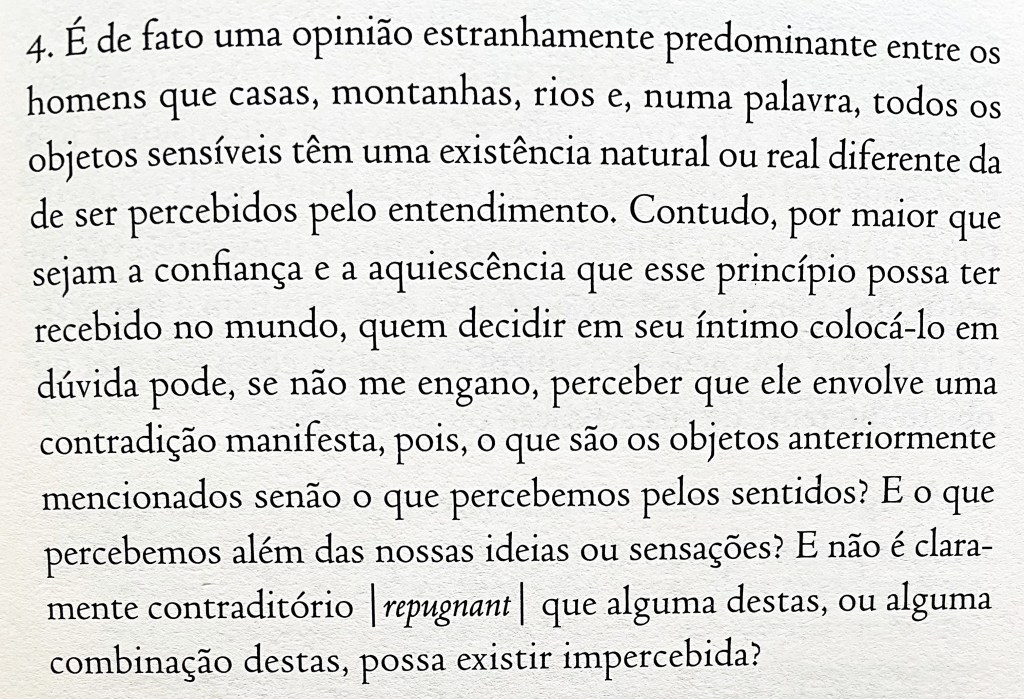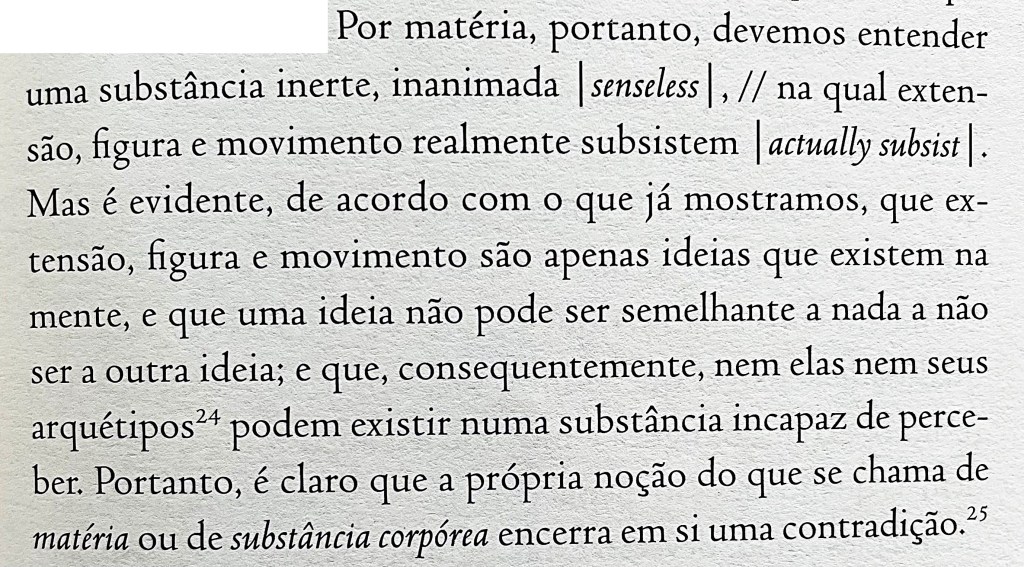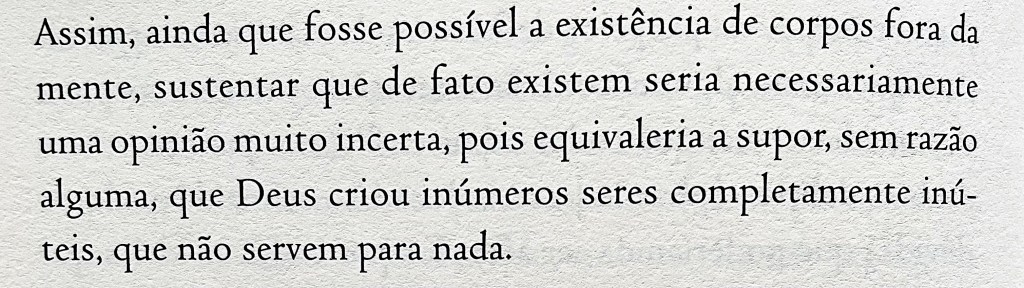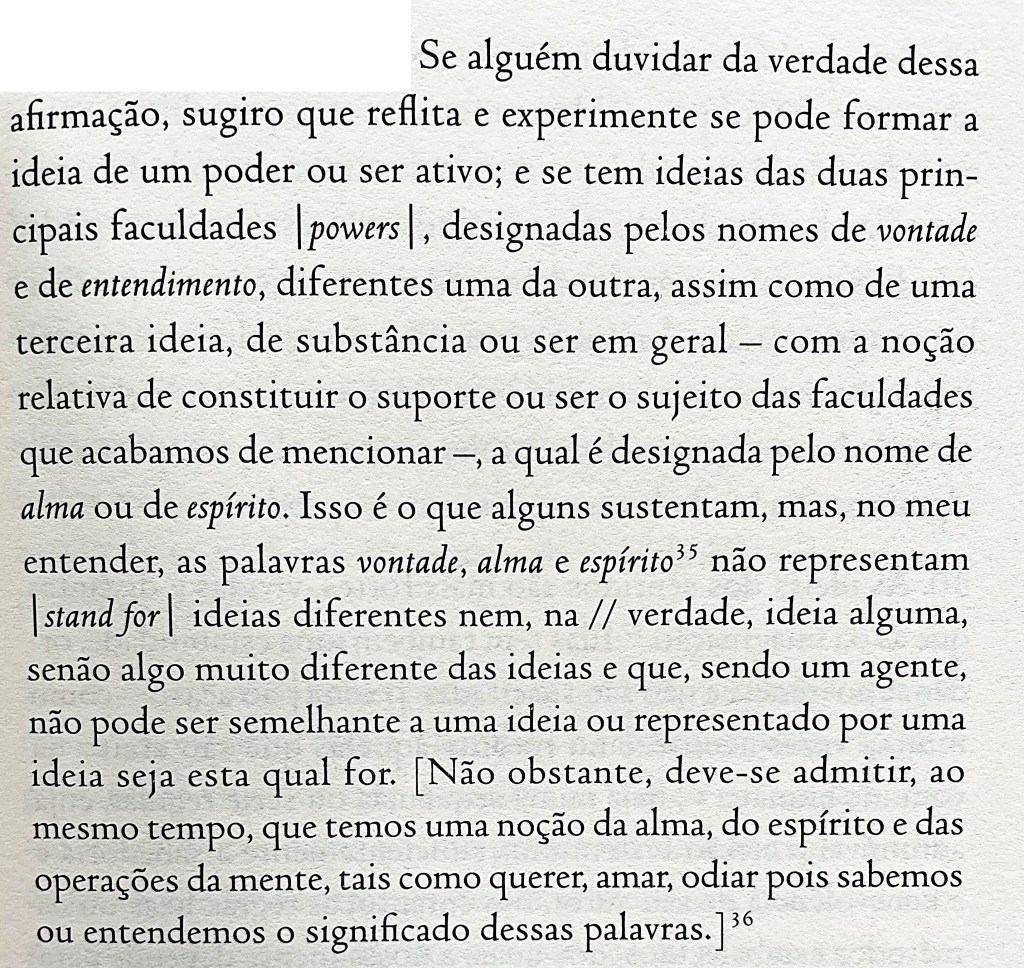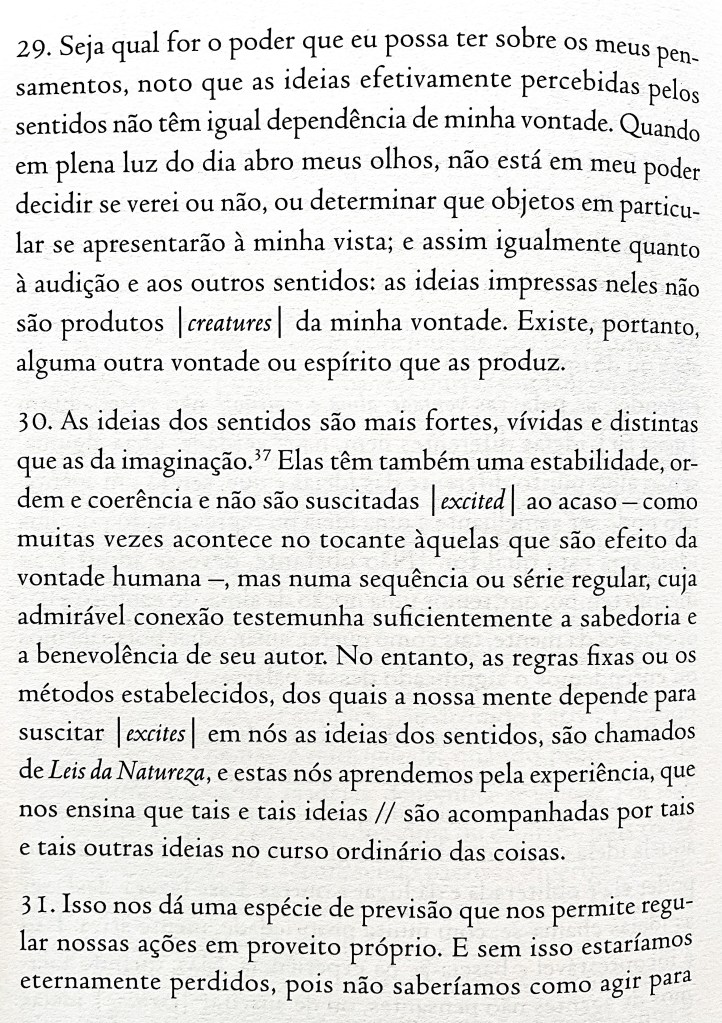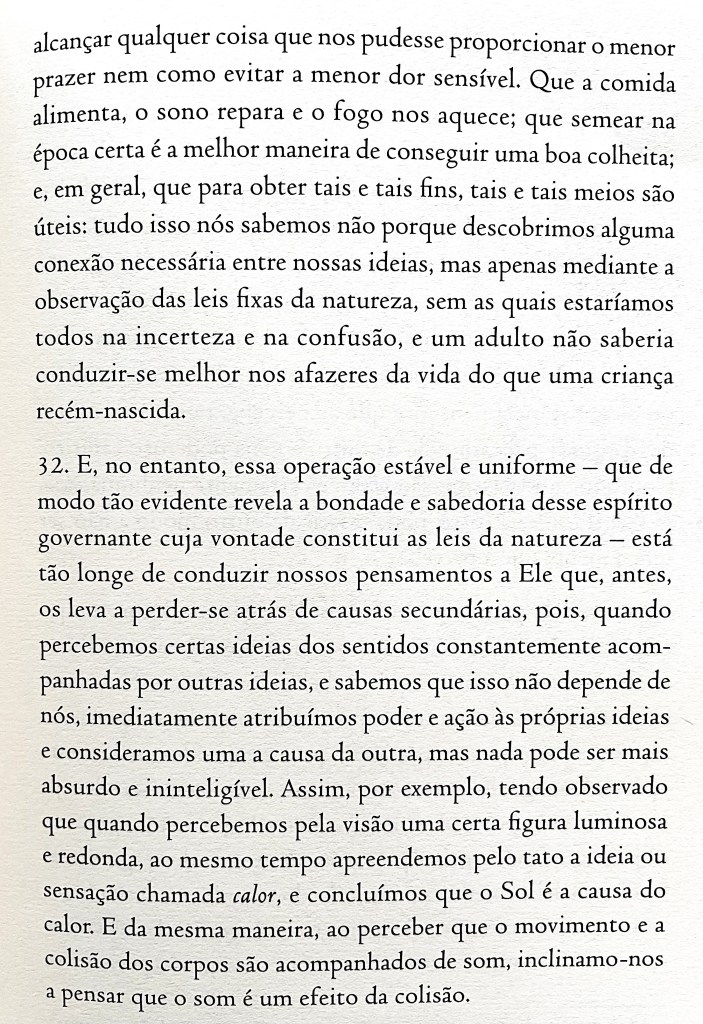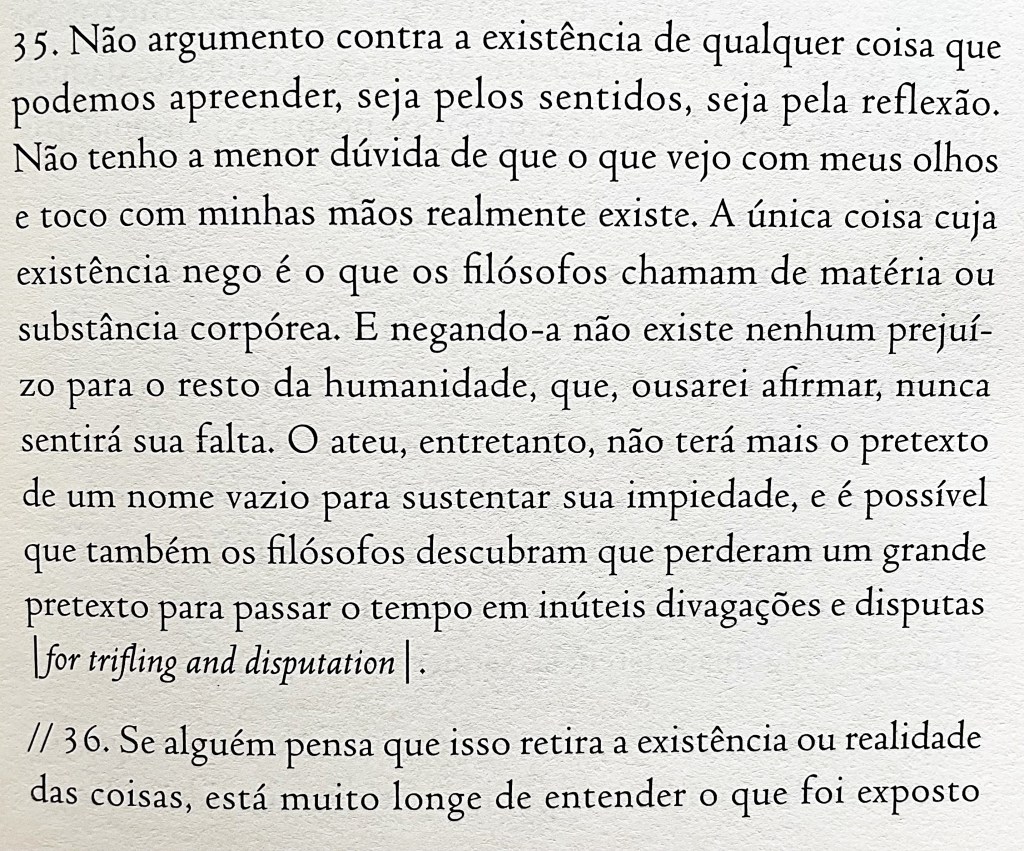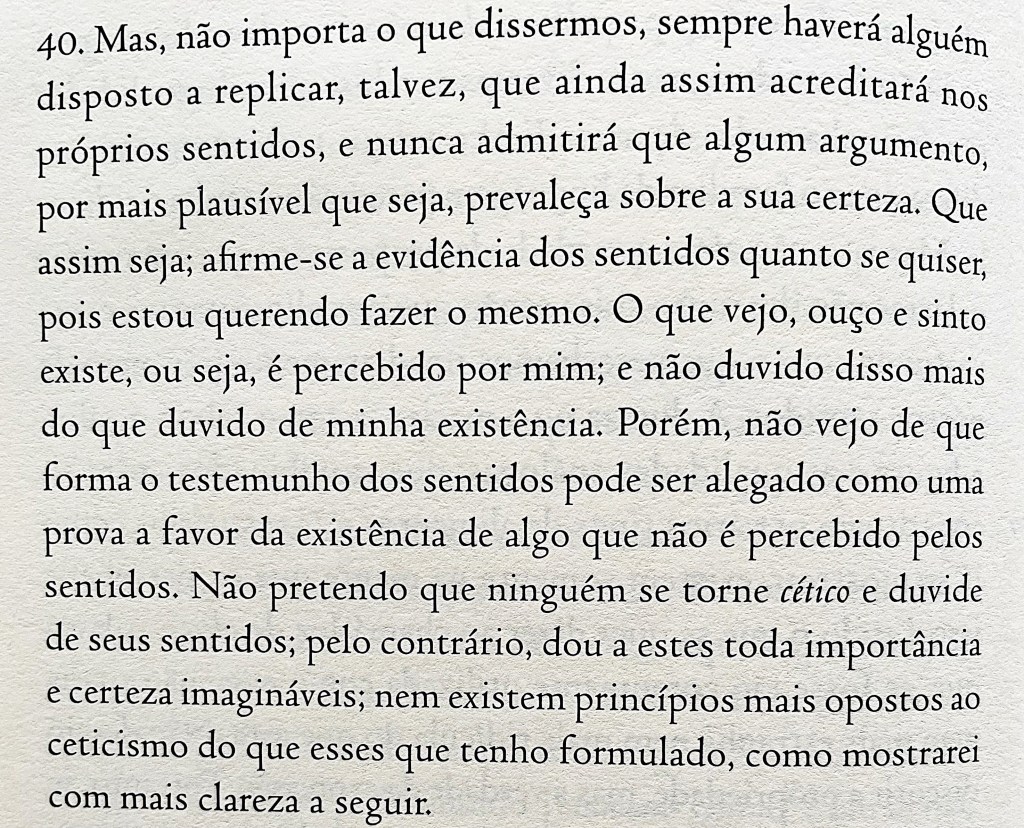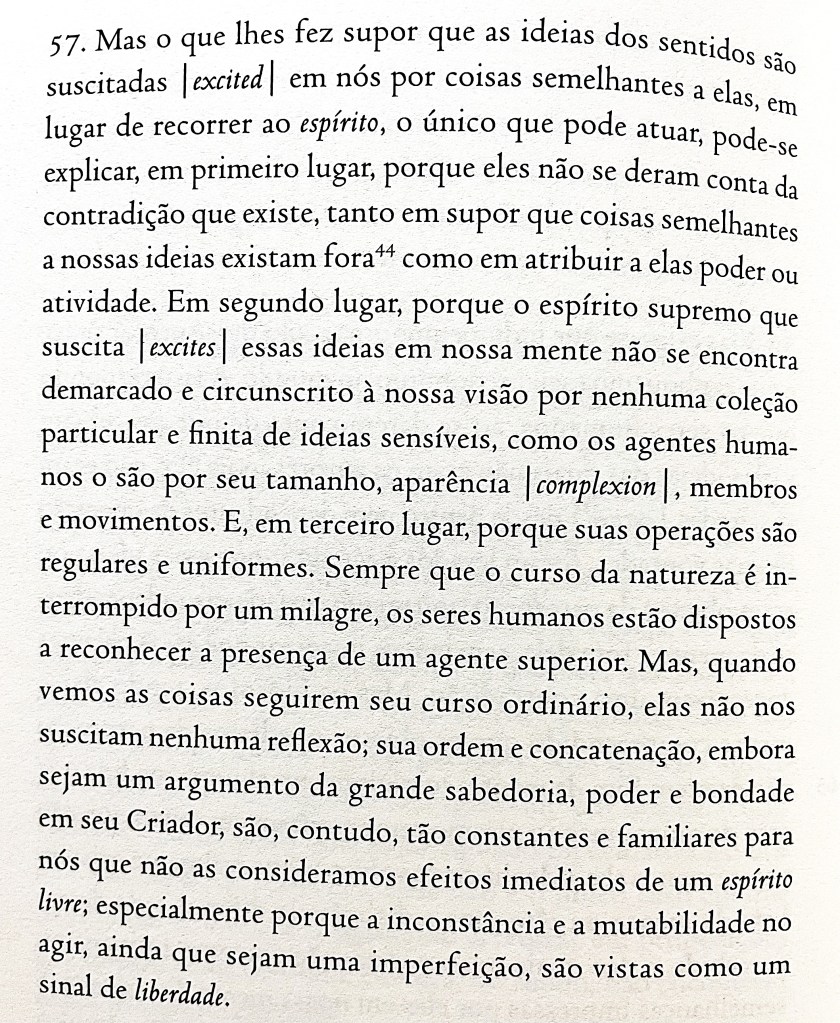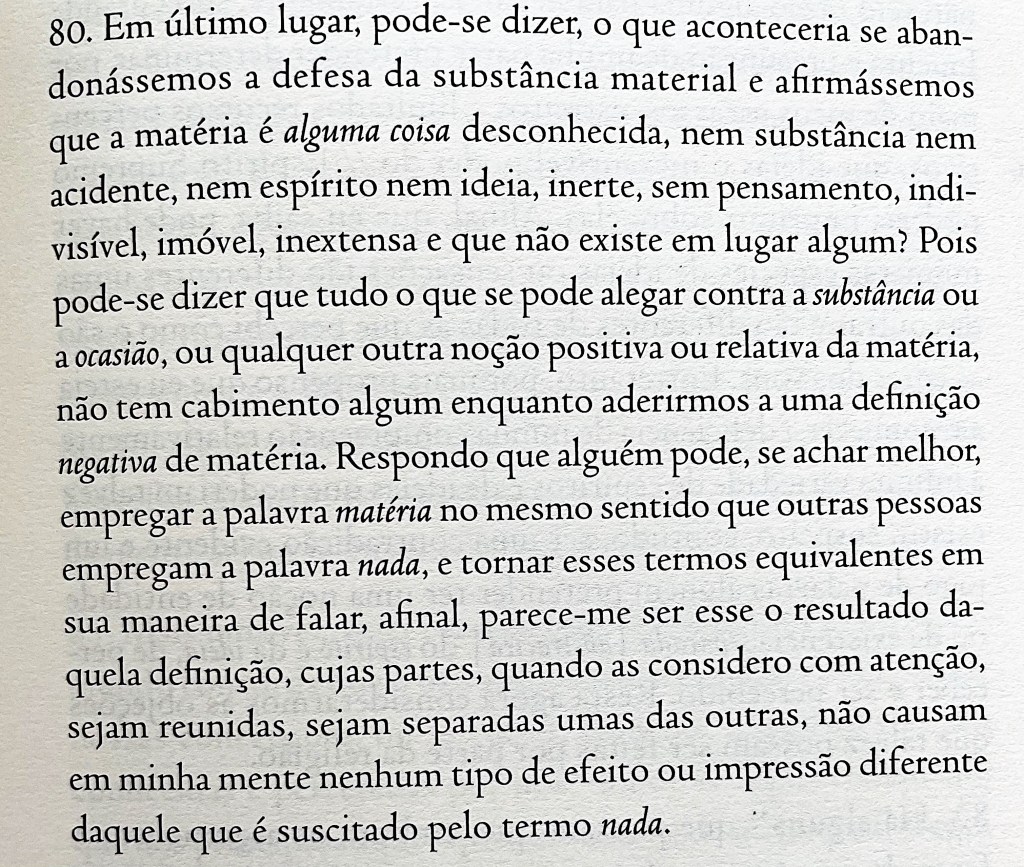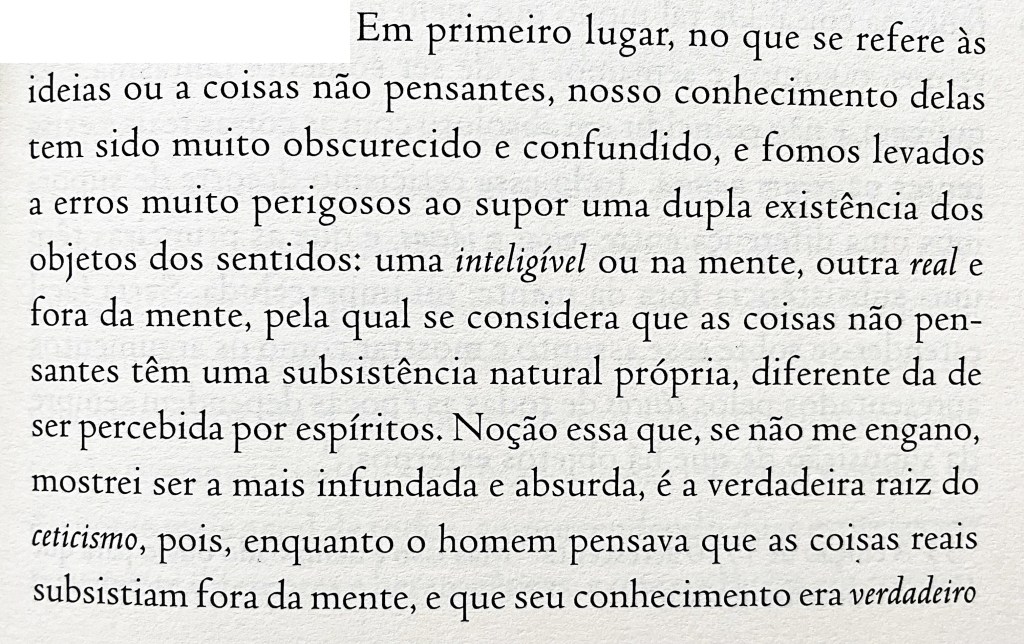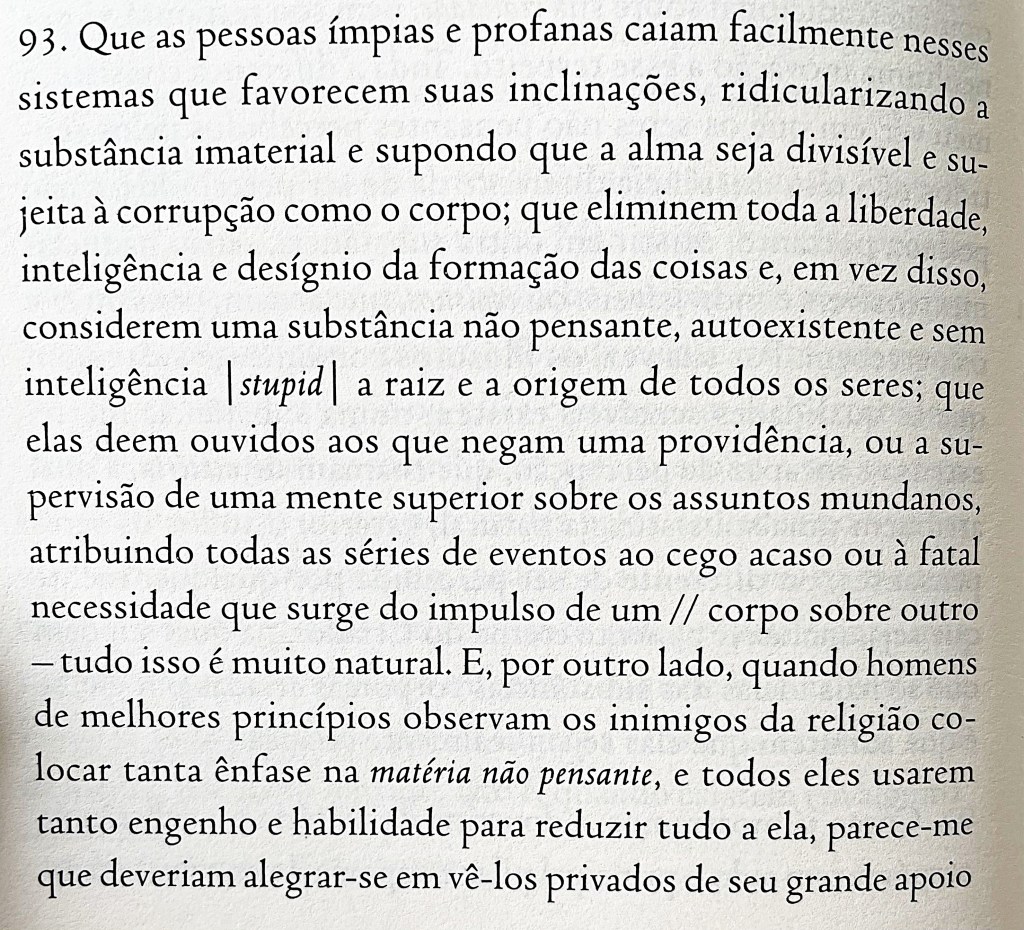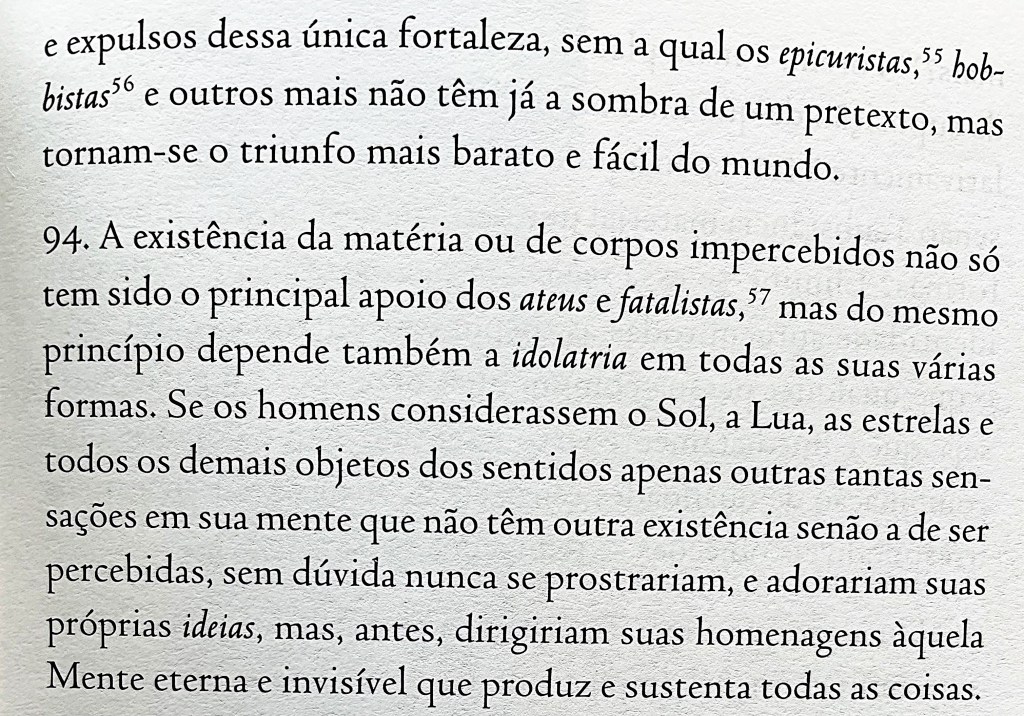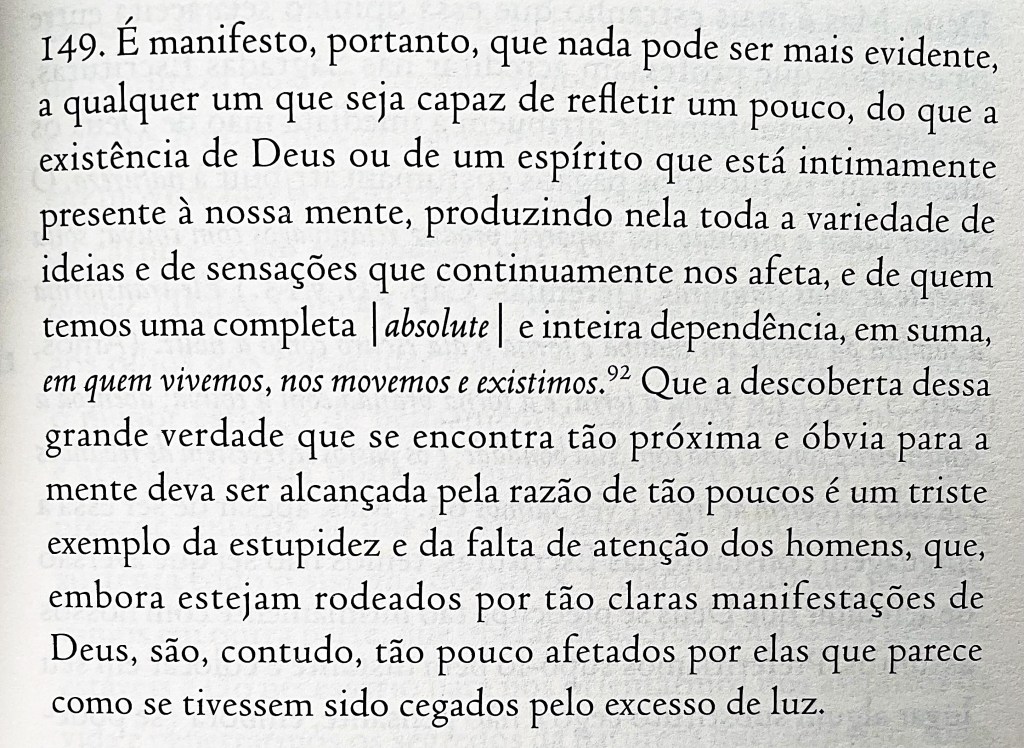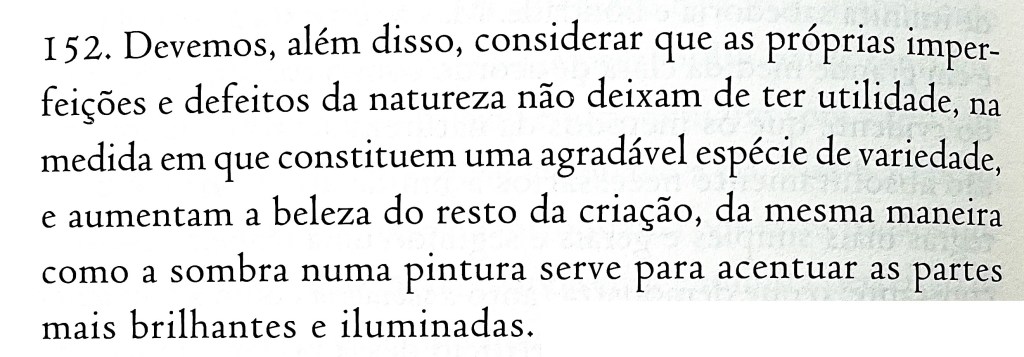A Fenomenologia do Espírito de Hegel apresenta-se como uma obra inaugural e ao mesmo tempo liminar: não é ainda o sistema acabado da filosofia especulativa, mas o caminho pelo qual a consciência deve passar para tornar-se capaz do saber filosófico propriamente dito. Seu propósito fundamental não é expor doutrinas isoladas, mas acompanhar o movimento vivo da consciência em sua experiência consigo mesma, mostrando como cada forma de saber, ao pretender captar o absoluto, entra em contradição interna e se supera necessariamente em uma forma mais rica. A verdade, para Hegel, não é um dado imediato nem um princípio pressuposto, mas o resultado do próprio percurso do espírito; ela é o todo que se realiza apenas ao final do processo, de modo que o verdadeiro não pode ser separado do devir que o engendra. A fenomenologia é, assim, uma ciência da experiência da consciência, onde cada figura do saber surge, exerce sua pretensão de verdade, fracassa segundo seus próprios critérios e, nesse fracasso, revela a necessidade de sua superação dialética.
A chave do pensamento hegeliano é justamente essa idéia de dialética. Isso por causa do limite da Razão humana já qualificado pela Crítica kantiana. Depois de Kant os filósofos só possuem duas alternativas: trabalhar seu pensamento criticamente com o reconhecimento do limite da Razão humana, ou produzir um pensamento dogmático. Hegel quer explorar o potencial de um racionalismo crítico ao máximo. O que ele descobre é que a verdade que o ser humano possui (com a exceção dos Juízos de Razão, ou analíticos) é de tipo processual, é a verdade da própria busca que deve se superar o tempo todo, ou seja, é a verdade dialética, indefinidamente falseável. Isso parece honrar a Humildade, mas se pensarmos bem é indiferente. E, na verdade, Hegel parece querer levar a coisa para o outro lado, numa espécie de reintrodução disfarçada do dogmatismo anterior sob a forma da extrapolação da filosofia crítica. Uma filosofia realmente humilde seria como a socrática, onde o “não sei” é a conclusão. Hegel parece levar o projeto filosófico na direção de Protágoras, onde o “não sei” é a premissa, e o homem deve então fundar sua própria verdade feita à sua imagem. Para não deixar minha própria idéia exposta apenas ao fim, já deixo claro que não aceito a suposta vantagem das filosofias de tipo crítico, pois elas entram no escopo do alerta que o Apóstolo fez a respeito das filosofias dos homens. A Sabedoria de Deus é loucura para o ser humano, e vice-versa, porque existe esse limite intransponível entre o intelecto criado e o Intelecto divino. Mas Deus é relacionável através de dons que Ele mesmo nos provê. Qual é o sentido então de se optar por uma filosofia crítica, senão o abandono dos recursos espirituais oferecidos por Deus, e o retorno à idéia da Gnose como meio do ser humano salvar a si mesmo? Por mais criativa e genial que sejam essas filosofias, nós precisamos reconhecer os seus defeitos espirituais. O que não nos impede de nos apropriarmos das suas conquistas legítimas (que só foram viáveis, lembremos, por uma dispensa da Graça), como o Idealismo até certo ponto, na linha daquilo que a Patrística afirmava: é dos cristãos tudo o que os pagãos falaram de bom.
O ponto de partida é a certeza sensível, forma aparentemente mais rica de conhecimento por pretender apreender o imediato em sua singularidade absoluta. No entanto, Hegel mostra que essa certeza, ao tentar dizer o “isto” e o “agora”, dissolve-se em universalidades vazias, revelando que o imediato sensível só pode ser expresso por mediações conceituais. A percepção, que busca estabilizar o objeto como coisa dotada de propriedades, tampouco escapa à contradição, pois oscila entre a unidade da coisa e a multiplicidade de suas determinações, sem conseguir fundamentar uma verdade consistente. O entendimento, por sua vez, introduz a noção de força e lei, alcançando um nível mais abstrato e universal de explicação, mas acaba projetando para além do fenômeno um mundo suprassensível que nada mais é do que a duplicação empobrecida do sensível. Em todas essas etapas, a consciência acredita que a verdade reside no objeto; contudo, o movimento dialético revela que a instabilidade do saber provém da própria estrutura da consciência, que ainda não se reconhece como participante essencial da constituição do objeto.
Precisamos entender isso em partes e com cuidado. Primeiro, a respeito da diferença entre o conhecimento sensível e o racional, o que produz a diferença destacada por Hegel é o poder de domínio da razão abstrativa que gera o entendimento. Em face da intuição do Ser através da Percepção, o produto secundário da razão como reflexão do intuído está muito mais ao dispor da nossa Vontade, o que sempre nos traz um tipo de conforto, especialmente para as pessoas com um temperamento mais obcecado com controle e domínio. Isto não quer dizer que a verdade pertence a nós, ou que a realidade intuída na Percepção seja menos verdadeira. Ao contrário, como Hegel assume, a realidade é sempre mais rica do que os produtos da depuração abstrativa. Agora, ela está fora do nosso controle. E isso pode incomodar quem deseja, acima do conhecimento intuitivo, sensível, da bondade, da verdade e da beleza do Ser, o seu domínio. Esse incômodo é fruto do orgulho, então é um problema moral e espiritual, não epistemológico. Uma maneira típica de inversão da prioridade do Ser sobre a Razão humana é a consideração de que não existe conhecimento sensível do tipo intuitivo através da Percepção, mas apenas do tipo abstrato através do entendimento. Essa já é uma interpretação orgulhosa do sentido do conhecimento. Segundo, sobre a participação essencial do sujeito na constituição do objeto, de acordo com as categorias mais básicas do Idealismo nós podemos concordar com Hegel, desde que isso signifique reconhecer somente que a realidade concreta, na sua riqueza percebida, seja produzida instintiva e intuitivamente pelo sujeito, mas nunca de modo mediado pela Razão abstrativa. De outro modo, a criatividade subjetiva seria a criação de uma imagem da verdade, de uma imitação, de uma falsificação da verdade, agradável por ser manipulável, mas falsa justamente por não ser perceptível pelas nossas sensações. Esta seria a diferença entre uma mônada criada movida por Deus na sua Percepção, ou seja, iluminada pelo ato da Mônada Incriada, e uma mônada criada que descobrisse possuir luz própria e a capacidade de gerar sua própria “verdade”. O segundo caso, que parece ser o objetivo da intenção de Hegel, seria o cumprimento da promessa da Serpente no Jardim do Éden. É desnecessário dizer o quanto essa doutrina é gnóstica. A filosofia, portanto, tem sempre o potencial de reconhecer o ato criativo de Deus, ou de querer se desligar dessa concepção e gerar um mito de emancipação da Razão humana. Qual seria, então, de acordo com o propósito divino, a função da Razão para o ser humano? Seria o de dar o testemunho da verdade fundada em Deus. É possível, porém, deturpar e corromper essa função para subsidiar racionalmente uma tese de rompimento com o divino. O que opera a escolha é o próprio arbítrio humano fundado na crença de aceitação de que o Mistério divino é amoroso, ou na crença maliciosa de que o Mistério é indiferente, ou mesmo maligno. Hegel e quem mais seja pode filosofar o quanto queira, jamais ultrapassará o fato dessa potência humana de crer na premissa que baseia a sua escolha. Contra o dogmatismo, o criticismo teria sempre a razão de se reconhecer como imune ao perigo da Escolha. Isso é verdade. Mas jamais pode se imunizar contra o perigo de não assumir a Escolha quando esta é inevitável na interpretação das primeiras premissas de qualquer raciocínio, afinal de contas não é impossível que alguma idéia dogmática seja verdadeira entre outras falsas, e que esta verdade só seja alcançável pela crença pura. Por outro lado, quem considerasse essa possibilidade poderia filosofar a respeito da distinção entre as conveniências das crenças diversas, e talvez alcançar, por exemplo, a Teleologia Metaracional do Sumo Bem. Isto tudo está à disposição da mesma Razão humana que Hegel quer usar para se imunizar contra todos os perigos das crenças. Bem dito, na Dialética hegeliana a falseabilidade da verdade provisória toma sempre a forma de algo como uma crença que precisa ser novamente criticada como uma tese deve receber a oposição de uma antítese. Mas a questão do valor da Escolha é a do encontro da verdadeira calma e tranquilidade que ele está sempre mencionando, que não está na descoberta de um Espírito em nós, mas que nos transcende. Em suma: o Espírito no qual podemos repousar não é o nosso próprio, mas o divino. Essa é a diferença do papel da Escolha entre crenças provisórias dentro de um raciocínio e a produzida sobrenaturalmente pela Fé: num caso crer é apenas uma parte de um processo, é a contraparte do descrer; no outro, crer é libertar-se de seu próprio limite que forçou o filósofo a assumir um pensamento crítico em primeiro lugar.
Esse reconhecimento emerge com a passagem à autoconsciência, momento decisivo da obra, em que o saber deixa de ter como foco principal o mundo exterior e volta-se para si mesmo. A autoconsciência descobre que sua essência é o desejo, isto é, a negação do outro em busca de afirmação de si, mas percebe também que tal afirmação só pode ser plenamente realizada no reconhecimento por outra autoconsciência. É nesse contexto que Hegel desenvolve a célebre dialética do senhor e do escravo, não como uma teoria sociológica, mas como uma figura lógica do reconhecimento assimétrico. O senhor obtém um reconhecimento insuficiente, pois provém de uma consciência subjugada, enquanto o escravo, através do trabalho e do medo da morte, transforma o mundo e a si mesmo, adquirindo uma mediação efetiva com a realidade. O trabalho torna-se, assim, o momento formativo pelo qual a autoconsciência supera a imediaticidade do desejo e aprende a objetivar sua liberdade, antecipando a dimensão ética e histórica do espírito.
Poucas coisas são tão decepcionantes quanto esse rebaixamento da filosofia hegeliana a esse nível de idealismo imanentista cheio de testemunho de Idolatria. A sua filosofia do senhor e do escravo parece ter sido produzida e apostada num procedimento ad hoc sem integridade suficiente. O que liga, afinal, a Fenomenologia do espírito à essa concepção tão particular do mundo? Somente a prática da Dialética mesma. Quer dizer, ficamos com a impressão de que Hegel quer apenas praticar o seu método de redescoberta de verdades possíveis em vários âmbitos da experiência humana, sem que essas coisas sejam integradas num sistema de modo orgânico. Neste ponto a filosofia do autor está presa à sua condição existencial. É uma filosofia de escravos e para escravos. O que nós temos a ver com isso? Nada. Não surpreende que as filosofias idólatras herdeiras da doutrina hegeliana só pudessem continuar essa estupidez por outros meios. Em todos os casos nunca se toca nem com a ponta de um dedo a realidade da prática do Pecado Original e a responsabilidade humana decorrente desse costume. Isso é consciência, ou autoconsciência? Só se for do espírito do Ouroboros que é o beneficiário da manutenção desse status quo. Por isso as revoluções liberais e socialistas foram e são apenas movimentos dialéticos que servem para mudar tudo sem mudar nada, porque seja como for classificado o papel do Estado, ou a distribuição das riquezas, dos dois lados da disputa o que nunca se questiona é o dever de perpetuar a condição da escassez. Essa é a Religião do Homem, a Religião de Adão, o Culto do Ouroboros, a Tradição Primordial. E esses filósofos todos, liberais e socialistas, são Bispos do Sistema da Besta. Hegel, entre eles, é apenas um primum inter pares.
A partir desse ponto, a obra desloca-se progressivamente do nível individual para formas mais complexas de vida espiritual, reunidas sob a noção de razão. A razão é a certeza de que toda a realidade é racional e de que o sujeito pode encontrar-se no mundo objetivo; porém, essa certeza passa por múltiplas figuras, desde a razão observadora, que busca leis na natureza e no homem, até a razão ativa, que pretende realizar o bem no mundo. Em cada uma dessas figuras, Hegel demonstra como a razão, ao tentar impor unilateralmente suas categorias à realidade ou ao agir segundo convicções abstratas, entra em conflito com a efetividade histórica e social. Esse conflito conduz à emergência do espírito propriamente dito, entendido não como uma substância metafísica separada, mas como a vida ética concreta de um povo, na qual indivíduo e comunidade se interpenetram.
Essa é outra das doutrinas idólatras que Hegel produz, um testemunho direto a favor do bolchevismo espiritual, essa idéia de Volksgeist (o “espírito do povo”). De onde sai isso? Ora, no processo da Dialética do Espírito em que ele se reconhece a si mesmo através do seu desdobramento na História, há o encontro entre as duas forças, uma descendente (a Razão) e a outra ascendente (a Terra), onde a síntese se revelará no homem do povo que sendo filho da Terra se torna apto a alcançar a Razão através da coesão da comunidade. Isso já é um Darwin avant la lettre, uma filosofia da Evolução natural, com a única diferença que Hegel seria, como idealista, focado no Espírito, e Darwin, materialista, estaria restrito a observação dos fenômenos sem causa transcendente. Mas que porcaria de idealismo seria esse em que o Espírito precisa se manifestar em fenômenos tais e quais para reconhecer a si mesmo, a tal ponto que nesse processo o homem seria até mesmo dependente da sua existência na coletividade para ser capaz de alcançar a autoconsciência que revelaria o próprio Espírito? É um idealismo muito fraco, se é que dá para chamar isto de Idealismo no sentido pleno. Compreendo como para um idólatra isso pode parecer coerente. Hegel no meio do mato entre as capivaras e tamanduás talvez não tivesse a paz suficiente para fazer a sua filosofia do Espírito. Então a coletividade o amparou para que juntos vencessem as contradições entre a Razão e a Terra, etc. Mas bastasse que ele reconsiderasse a possibilidade de que um ato divino o pudesse iluminar, mesmo no meio daquele mato sem cachorro, para que as suas causas necessárias se tornassem meros acidentes, elementos de cenário. Qual é a diferença? A iluminação divina requer uma crença amparada pelo dom sobrenatural da Fé. Já a interpretação hegeliana só requer que o homem pense a respeito da sua condição. Novamente identificamos o ser humano operando a Escolha entre confiar no Amor e buscar o Poder.
No domínio do espírito, a consciência já não se compreende como um sujeito isolado diante de um objeto, mas como parte de uma totalidade histórica de costumes, instituições e práticas compartilhadas. A análise da eticidade grega revela uma unidade imediata entre indivíduo e comunidade, mas também sua fragilidade diante da cisão entre lei humana e lei divina, dramatizada na figura trágica de Antígona. O mundo romano introduz a abstração da pessoa jurídica, garantindo a universalidade do direito, mas ao preço da dissolução do conteúdo ético concreto. Essa dissolução culmina na alienação do espírito no mundo moderno, onde a moralidade subjetiva e a cultura produzem um conflito profundo entre consciência individual e ordem social, expresso na hipocrisia, no ceticismo e na chamada “consciência infeliz”. Tal figura representa o espírito dilacerado entre um absoluto transcendente e um eu finito, incapaz ainda de reconciliar interioridade e objetividade.
Tudo isso pode ser explicado como decorrência da Queda do homem enquanto desligamento voluntário da vida na Presença de Deus. Hegel está tentando reconhecer na História o que é muito mais facilmente reconhecível no nosso interior de modo imediato: o drama da impiedade no sentido da experiência dos efeitos desse desligamento espiritual. Nós todos somos filhos de uma prática de traição contra o Espírito Santo, e nascemos e fomos criados numa cultura de Cativeiro. O conflito entre o Absoluto e o eu finito só existe quando aquele é estranhado no seu Mistério. O que quero dizer com “estranhado”? Desconfiado de forma maliciosa. Isso leva o ser humano a querer redescobrir o Absoluto como algum tipo de propriedade sua. Mas como isso não é verdade, a tal da “consciência infeliz” de Hegel se torna um destino fatal. “Quem quiser se salvar, se perderá”, Jesus já alertou. O homem abandonado a si próprio é a mais infeliz e miserável das criaturas, pois tem, ao mesmo tempo, a noção do potencial de felicidade que Deus lhe propiciou por ter lhe feito à Sua imagem e semelhança, e todas as limitações pequenas e mesquinhas da animalidade. Um animal natural incapaz de racionalidade não pode ser infeliz, pois seu sofrimento não tem sentido porque não pode ter sentido. Já o homem, animal racional, é infeliz pois o seu sofrimento poderia ter um sentido que ele desconhece qual seja. Daí filósofos como Hegel tentarão explicar isto como algo assim, um processo dialético de autoconsciência do Espírito, que pode ser uma explicação muito estimulante intelectualmente, mas que não muda a realidade concreta da nossa infelicidade. As esperanças são depositadas em algo assim como um atingimento de uma meta futura, uma promessa qualquer do tipo Humanista, talvez para quando nos tornarmos Übermensch finalmente, vai saber. Daí eu pergunto, diante desta ficção: qual é a evidência que privilegia essa concepção em face da crença numa salvação divina? Em outros termos, do ponto de vista estritamente racionalista (sem se considerar o aporte de dons espirituais), que diferença tem entre crer que salvaremos a nós mesmos nos transformando em algo como deuses, e crer que seremos salvos por um Deus amoroso? Objetivamente não teria diferença. Subjetivamente, a diferença é a que existe entre a Presunção e a Humildade. Esta é a natureza dessa Escolha. Não tem nada a ver com Razão, e quem presumir que tenha está apenas embarcando num conto gnóstico. Sim, mais um.
A superação dessa cisão ocorre no âmbito da religião, em que o espírito passa a representar a si mesmo sob formas sensíveis e simbólicas. Hegel distingue momentos religiosos correspondentes às etapas anteriores do desenvolvimento espiritual, culminando na religião revelada, em que o absoluto é concebido como espírito encarnado. Contudo, mesmo a religião mais elevada permanece no registro da representação, isto é, expressa a verdade em imagens e narrativas, não ainda no conceito. Por isso, a reconciliação plena entre finito e infinito, humano e divino, só se realiza no saber absoluto, momento final da Fenomenologia. Nesse ponto, o espírito reconhece que todo o percurso anterior foi seu próprio movimento, e que a verdade não está fora da história da consciência, mas é precisamente essa história compreendida conceitualmente.
Saber absoluto? Hegel é um fetichista do Nominalismo. Ele acha mesmo que nós podemos dominar a verdade através de conceitos. O que é um conceito? É um produto acabado da Razão humana cuja validade é determinada pela sua coerência interna. Isso não tem nada a ver com a Verdade como correspondência, na consciência, entre o Intelecto e o Ser. Voltamos ao nosso ponto de partida, que era a desconfiança da intuição obtida pela Percepção. A verdade sempre esteve ali. Quando a abstração pretendeu dominar a verdade pela Razão, ela apreendeu apenas a imagem da verdade cujas categorias formais permitem a construção de conceitos perfeitos. Ora, no que consiste a perfeição desses conceitos? À sua correspondência aos nossos limites. O conceito revela a verdade do nosso domínio limitado da verdade abstraída do Ser. Isso não é um saber absoluto! Kant sabia disso muito bem. Hegel se perdeu. Desculpem a imagem, mas é como um punheteiro que acha que sua imaginação é mais satisfatória do que seria a experiência de uma realidade apetecível. É apenas uma fantasia, uma satisfação com a independência em relação ao Ser. Mas o que nós queremos mesmo é possuir o Ser e desfrutar de toda a sua bondade, verdade e beleza, obviamente.
O saber absoluto não é um saber enciclopédico de fatos, nem uma intuição mística do todo, mas a consciência filosófica de que sujeito e objeto, pensamento e ser, são momentos de uma mesma totalidade racional em processo. A Fenomenologia do Espírito encerra-se, assim, não com um dogma final, mas com a posição do ponto de vista especulativo, a partir do qual a filosofia pode desenvolver o sistema da ciência. O leitor que percorre esse caminho não recebe verdades prontas, mas é conduzido a experimentar a necessidade interna de cada figura do saber, aprendendo que a negatividade, a contradição e o sofrimento do espírito não são falhas a serem eliminadas, mas o próprio motor da verdade. Nesse sentido, a obra de Hegel permanece como uma das tentativas mais radicais de pensar a razão não como um instrumento externo ao mundo, mas como o próprio movimento pelo qual o real se torna inteligível a si mesmo.
Não vou dizer que Hegel não fosse ao seu modo um mestre de filosofia, uma mente criativa e um dialético excepcional. Ele foi tudo isso. Mas o que é isso? Onde eu encaixo esse fato? Na minha visão de mundo, essa sua obra é uma tentativa de reafirmar um idealismo imanentista do tipo Humanista, isto é, uma idolatria do Homem por ele mesmo. É por isso que uma obra filosófica tão profunda na sua própria metodologia pode ser, do ponto de vista espiritual, algo tão inócuo como qualquer outra filosofia amparada em premissas ruins. Não há nada, então, de proveitoso na obra de Hegel? Não consigo afirmar isso. É o mesmo que dizer, por exemplo, que não há nada de proveitoso na Astrologia, ou na Psicologia. Já falei dos perigos dessas coisas, mas isto não quer dizer que não haja algo proveitoso nelas. Tudo depende do quanto você consegue se aproximar de um fogo sem se deixar queimar por ele. É como a tentação para o pecado: se você não sabe se algo é pecaminoso ou não, a resposta mais simples é de que sim, é um pecado. É um perigo tudo aquilo que não temos a liberdade de nos apropriar com boa fé. Voltando ao Hegel, o que há de produtivo na sua filosofia é o próprio método dialético que, assim como Fichte antes dele, Hegel aprimorou ao ponto de recuperar a noção escolástica da logica inventionis. No meu entendimento, isso é muito mais benéfico do que a obsessão com conceitos. A Dialética é um método de investigação e da descoberta, e a metodologia hegeliana pode ser inspiradora nesse sentido. Outra coisa boa em Hegel é a noção de que no plano da imanência a tentativa de realizar um ideal tende a manifestar o seu oposto, pois o Absoluto não pode ser contido no imanente. Se você, portanto, quiser caos, é mais fácil forçar uma ordem repressora artificial que gere a anarquia como consequência, pois se produzir o caos diretamente só invocará, com isso, a reação de forças ordenadoras. E o contrário é igualmente verdadeiro, se você quer mais ordenamento o melhor caminho é gerar um caos artificial (que tem um controle secreto desconhecido de outros agentes) e gerar a reação de busca pela repressão. Curiosamente, esse entendimento deveria favorecer a busca de verdades transcendentes a qualquer Dialética, como princípios que só poderiam ser acreditados, mas nunca demonstrados, por escaparem da contradição. Uma escolha infeliz de Hegel é, diante disso, imitar Fichte e se obcecar com a busca de uma ciência humana como veículo de salvação. Infelizmente as escolhas de Hegel não tiveram consequências que se limitaram apenas a ele, e muitos intelectos arrogantes e pretensiosos fizeram escola com a sua filosofia.
Nota espiritual: 2,4 (Moriquendi)
| Humildade/Presunção | 1 |
| Presença/Idolatria | 1 |
| Louvor/Sedução-Pacto com a Morte | 5 |
| Paixão/Terror-Pacto com o Inferno | 5 |
| Soberania/Gnosticismo | 2 |
| Vigilância/Ingenuidade | 2 |
| Discernimento/Psiquismo | 1 |
| Nota final | 2,4 |