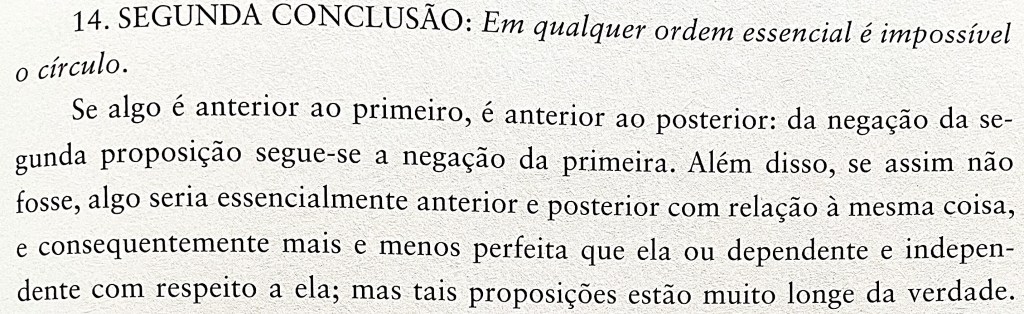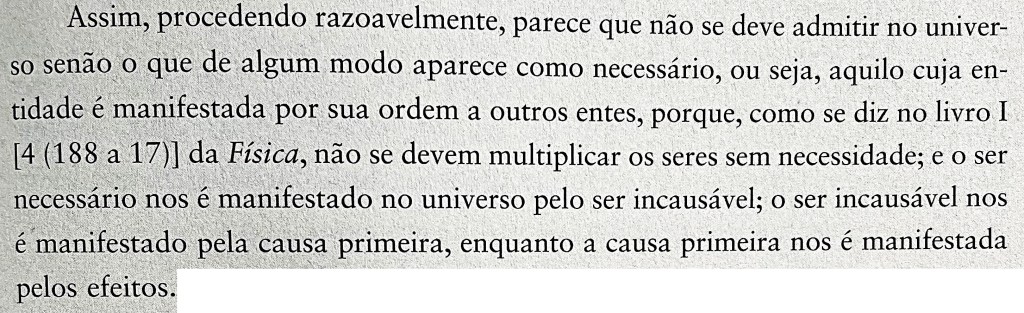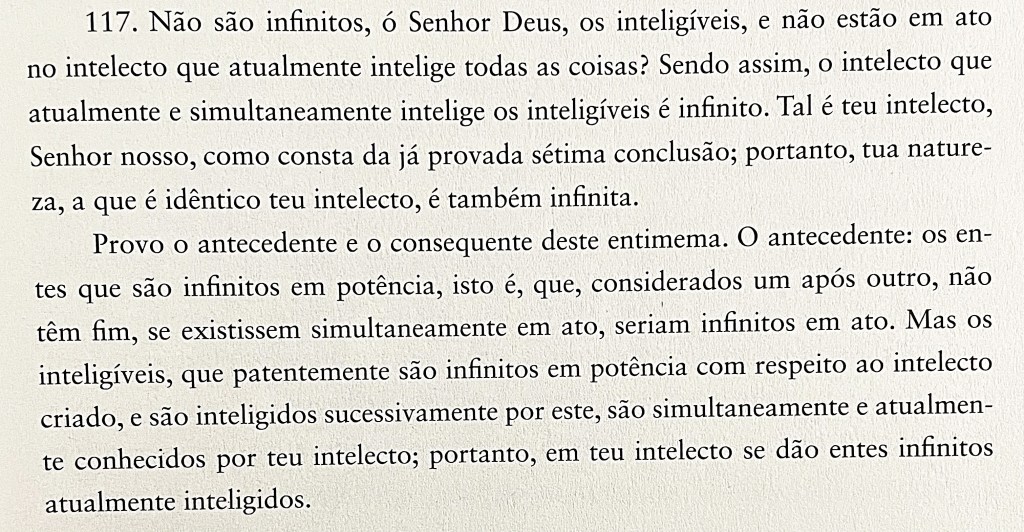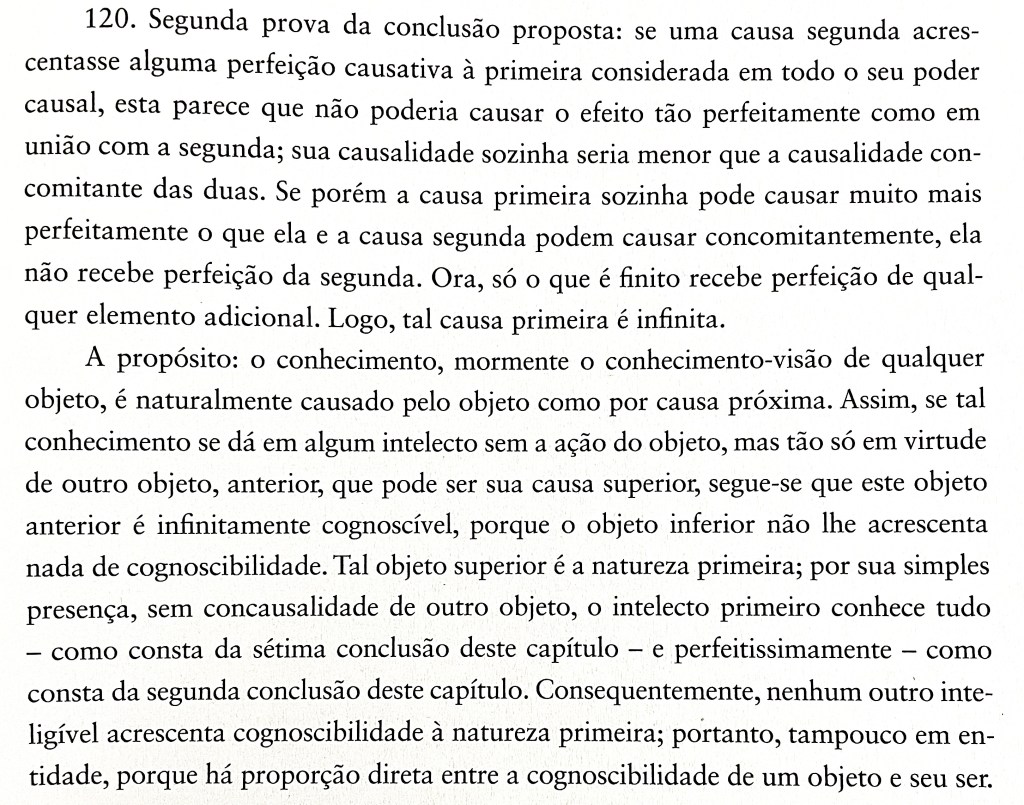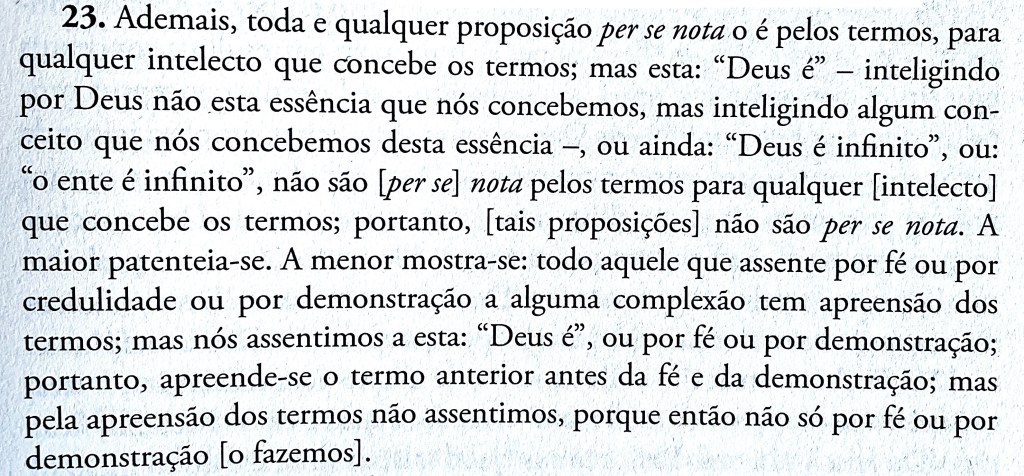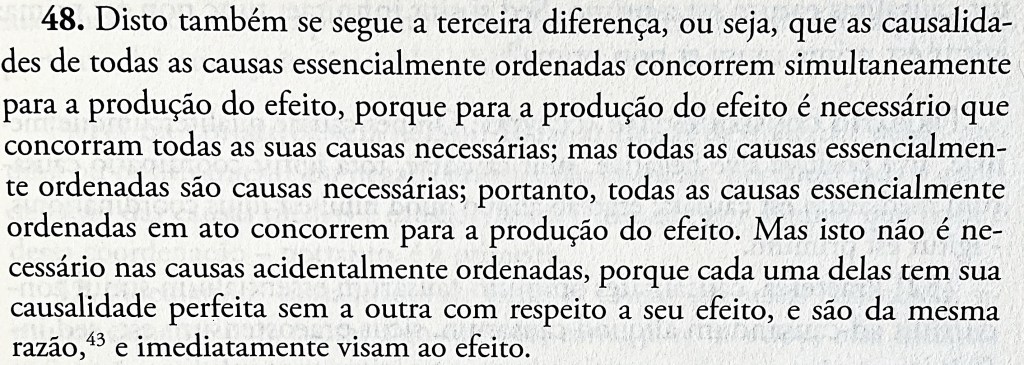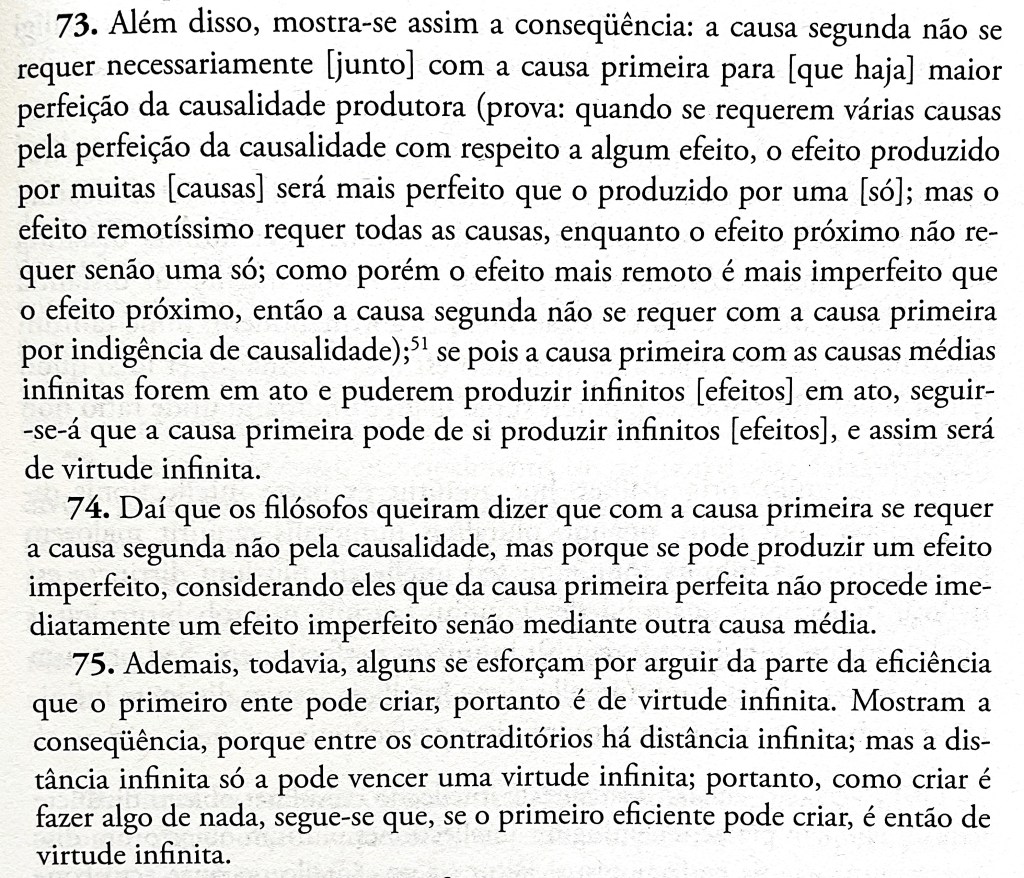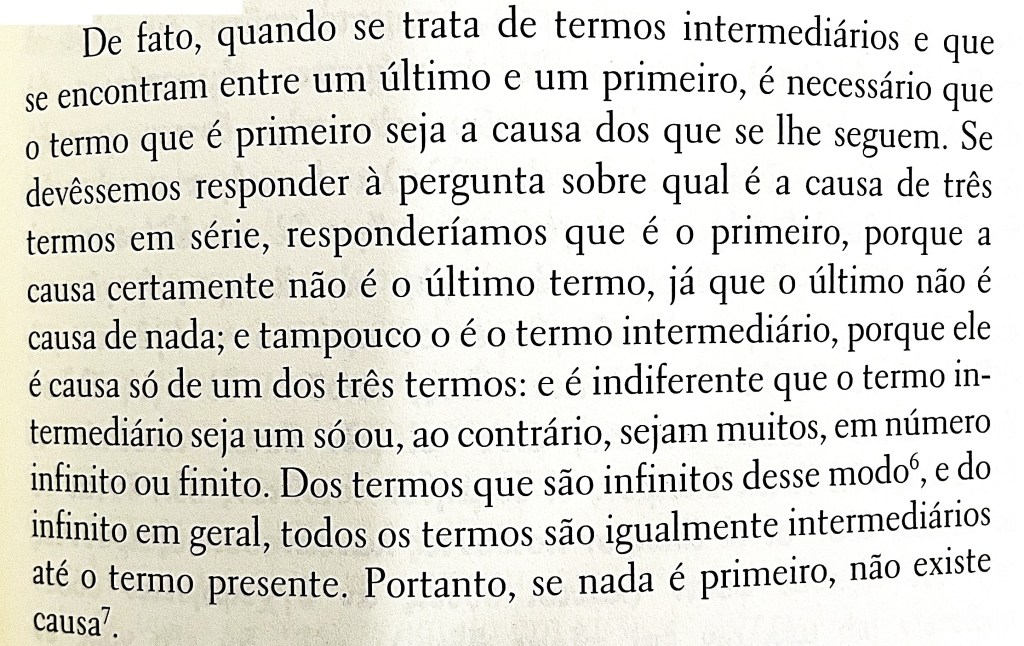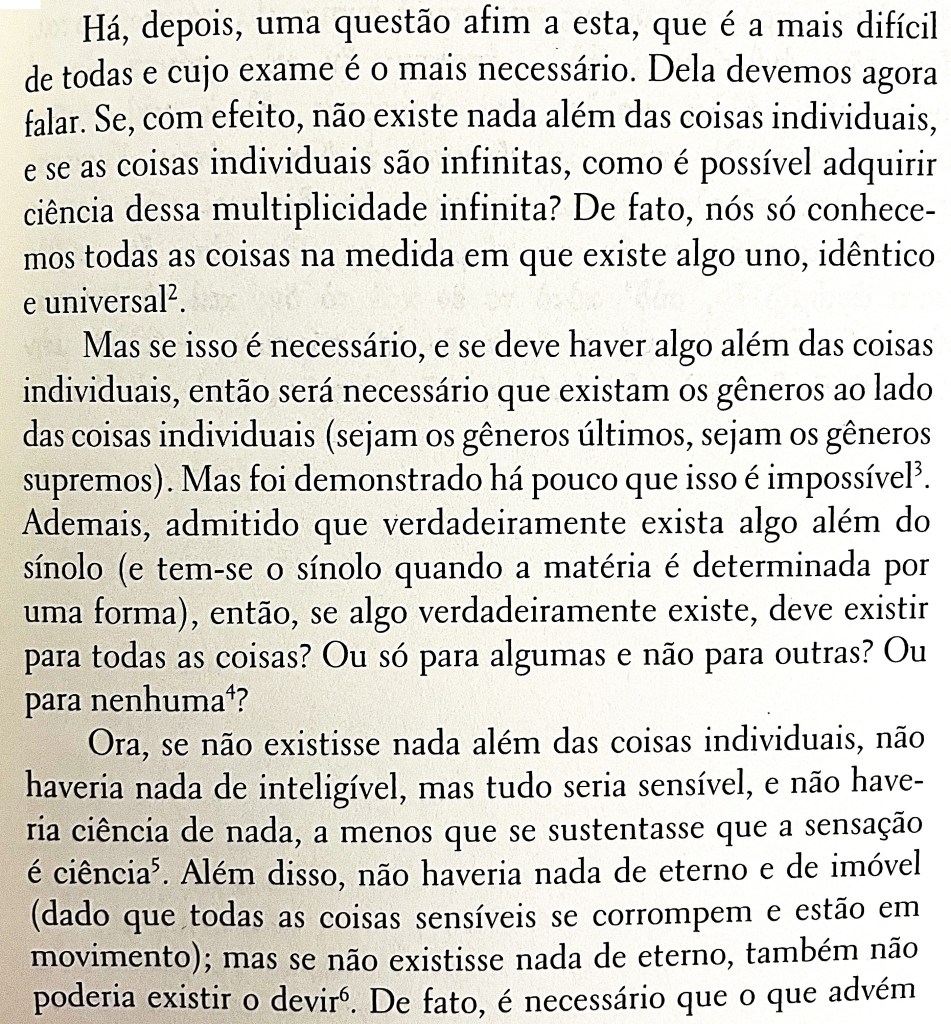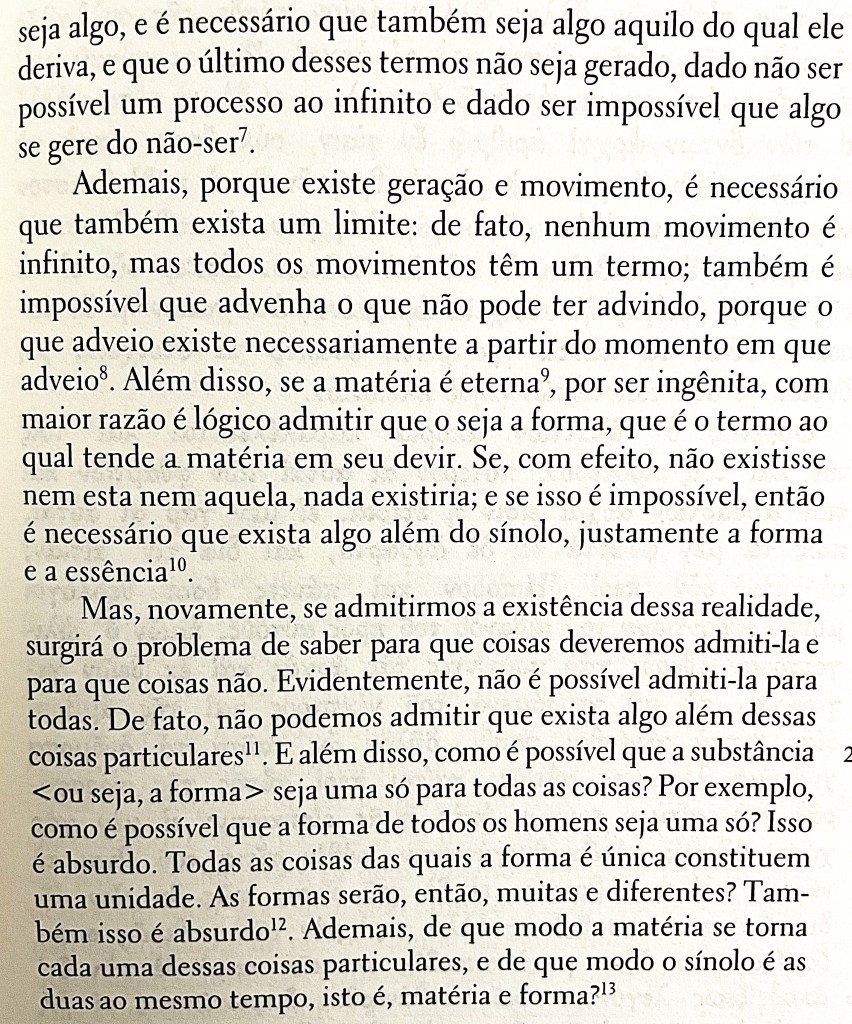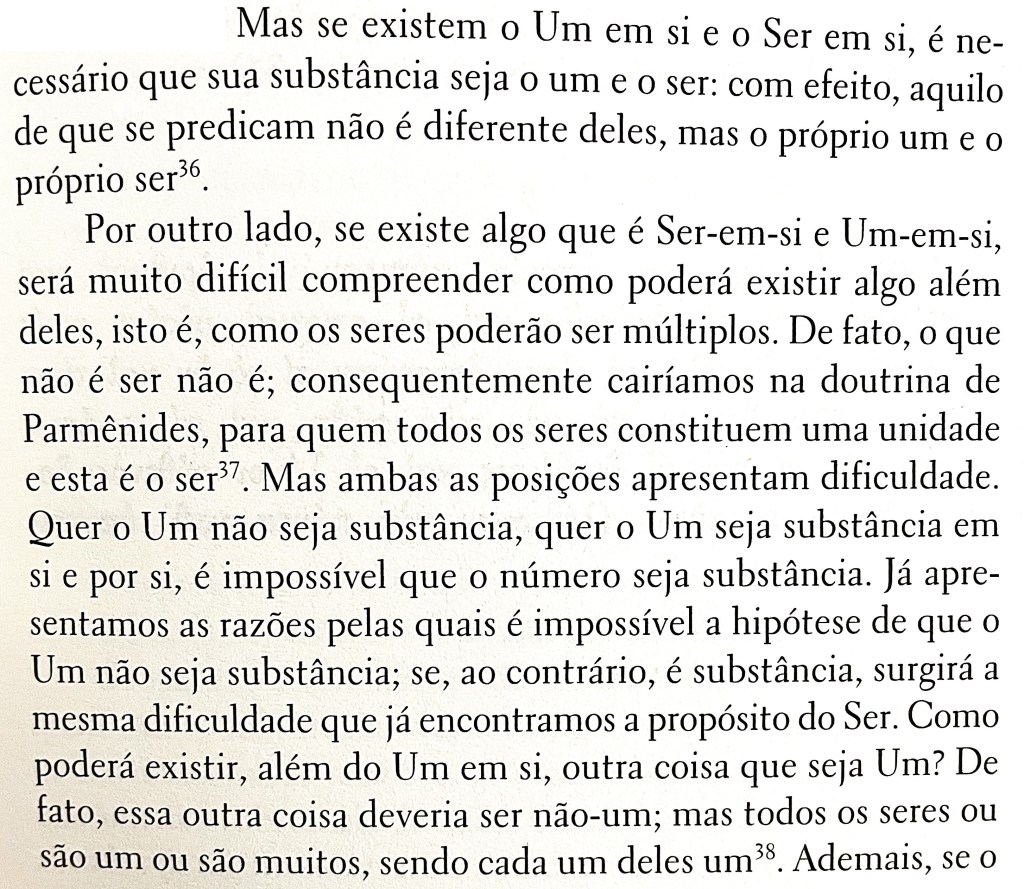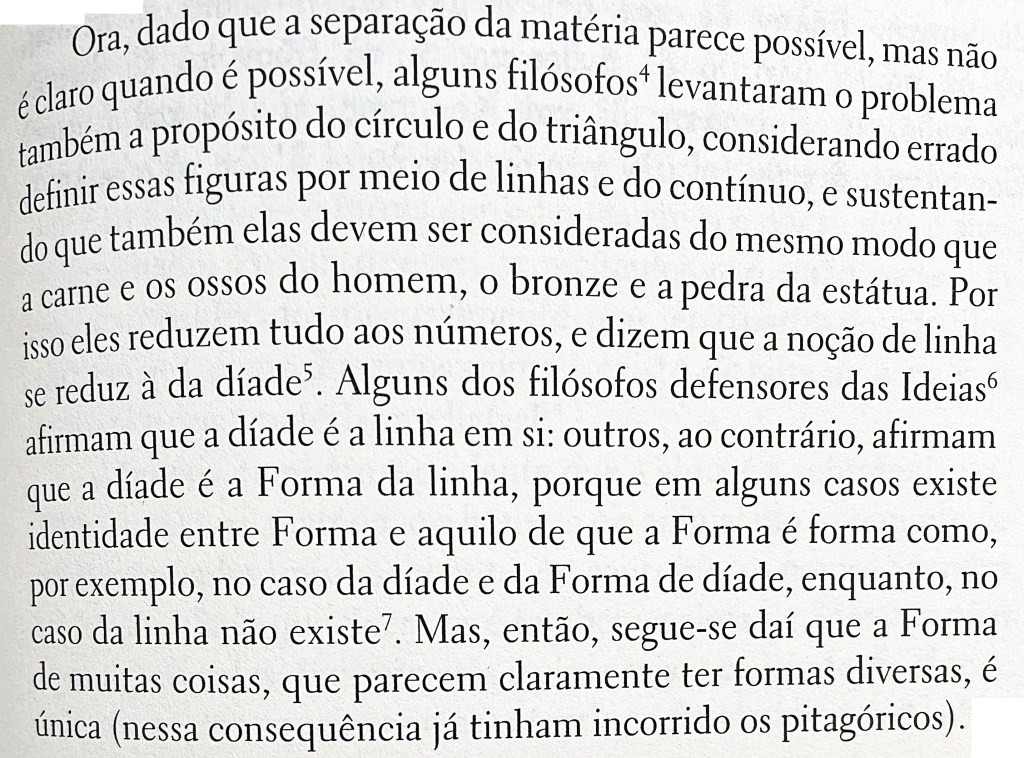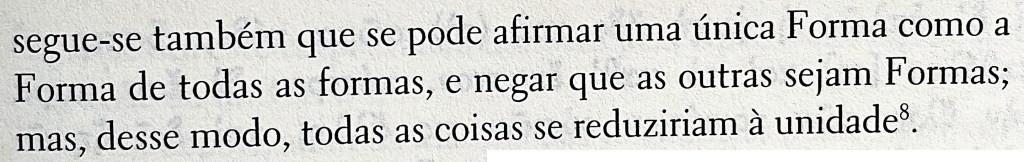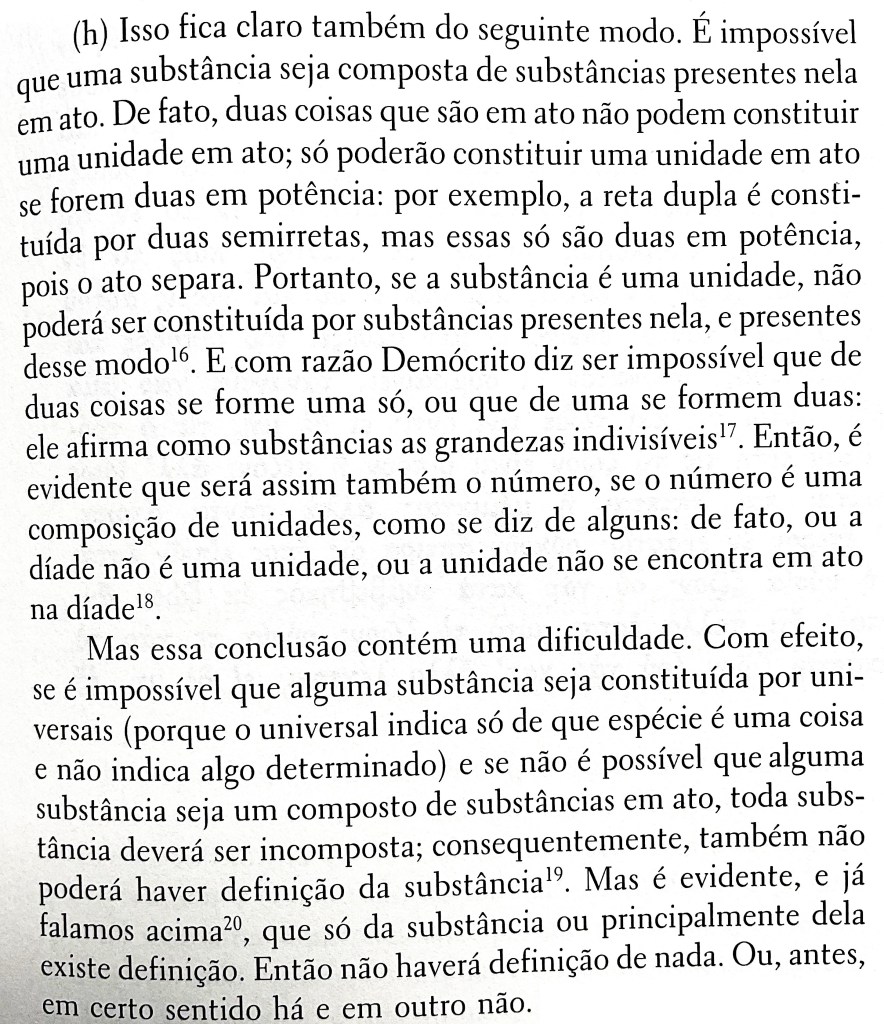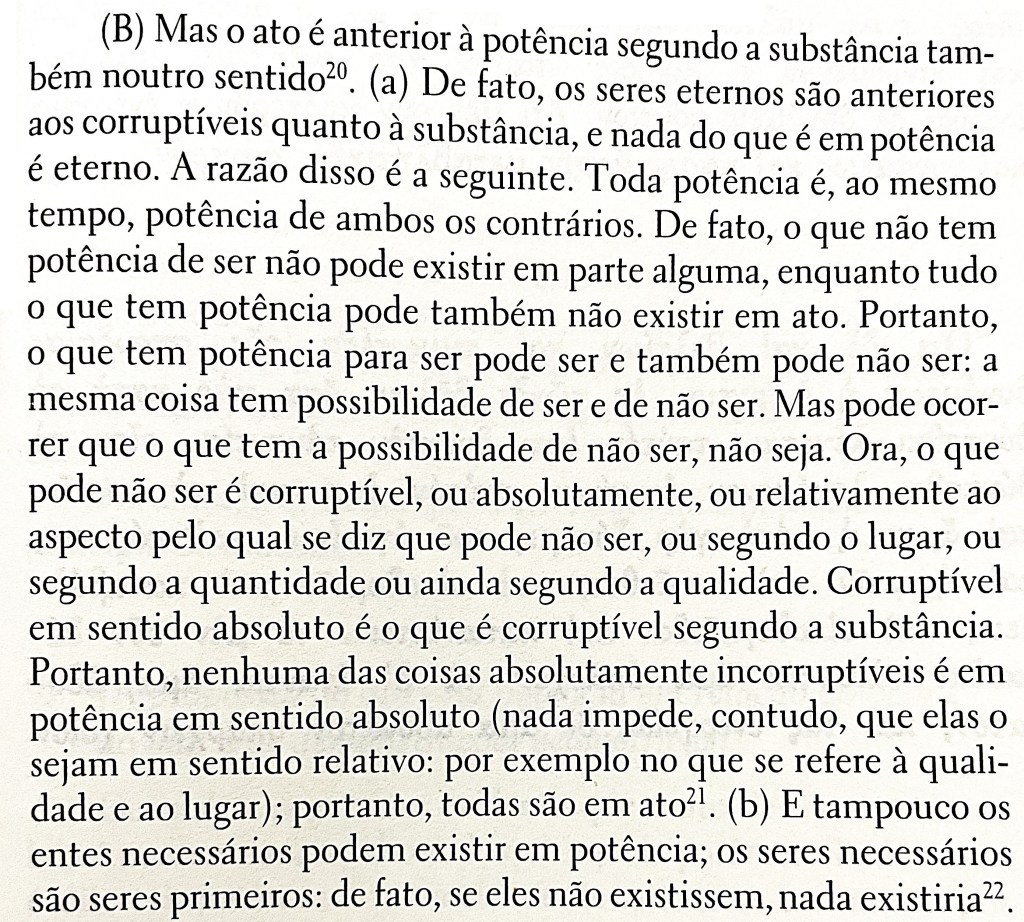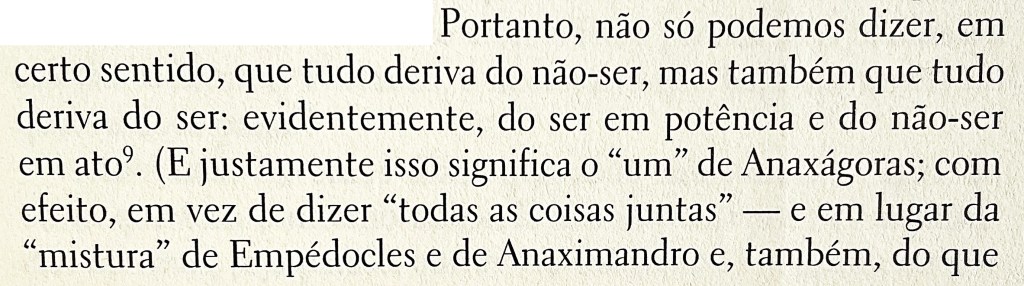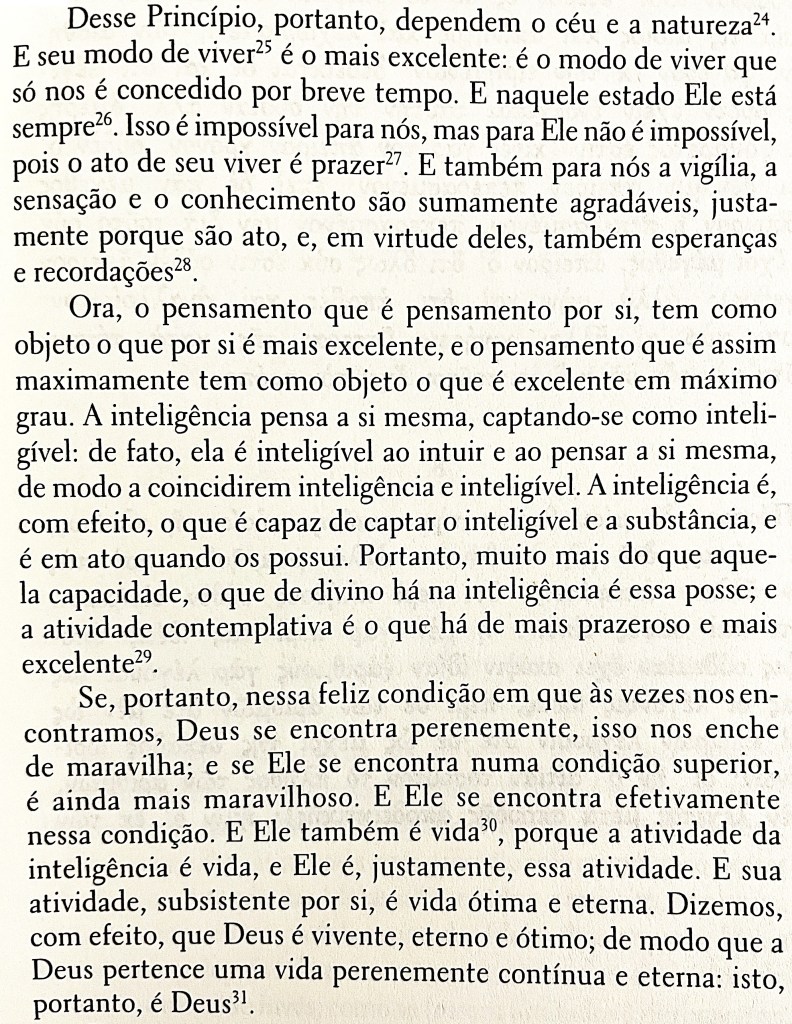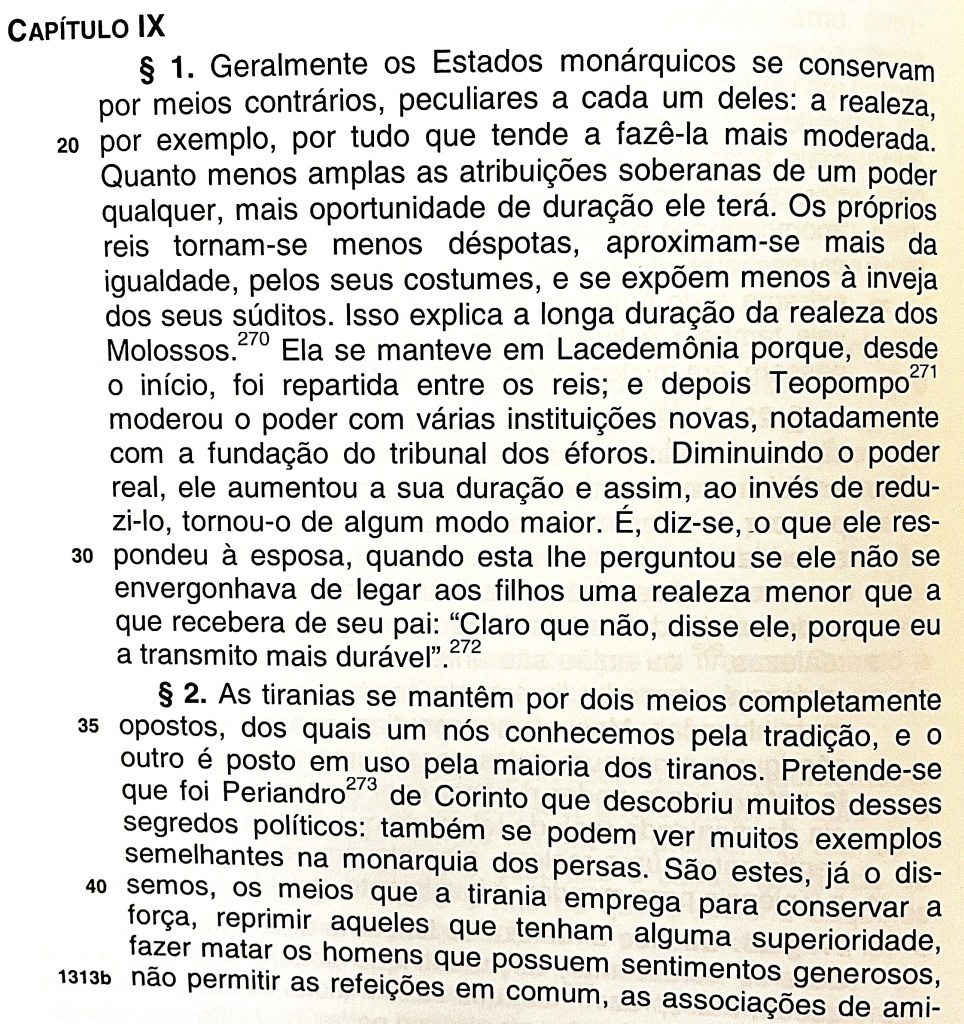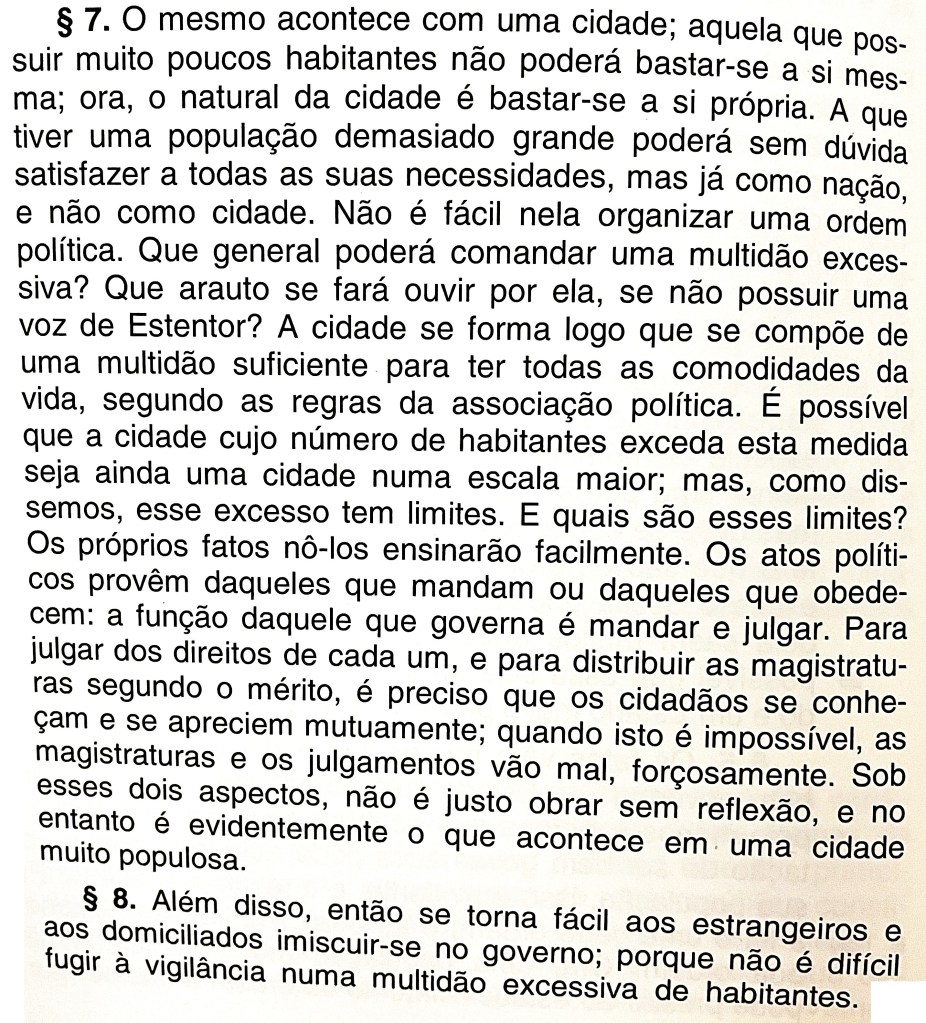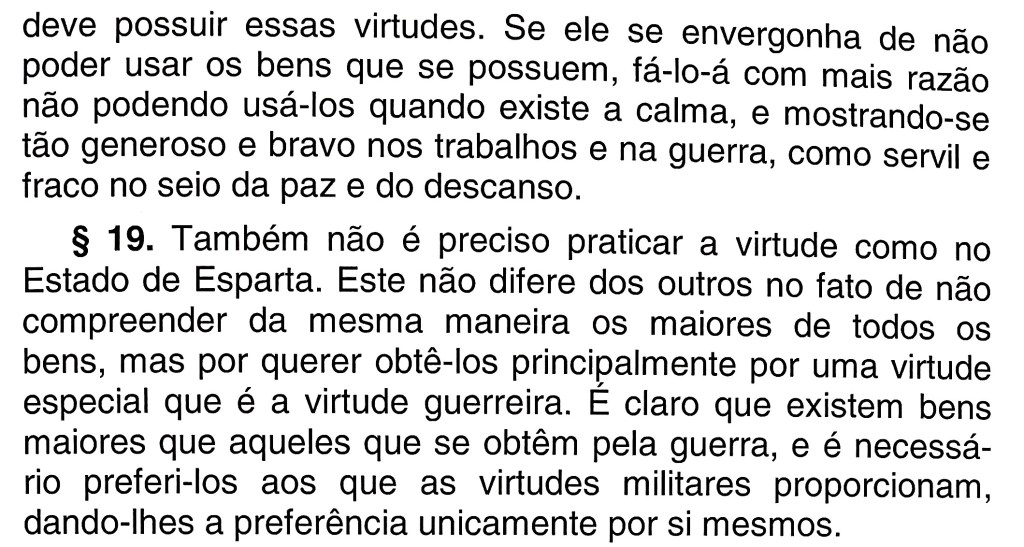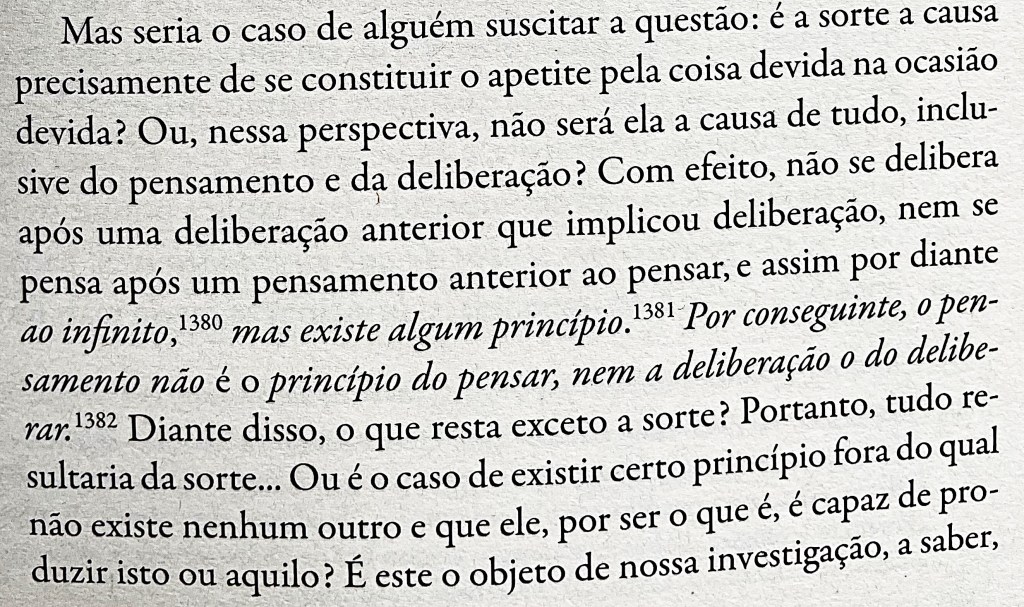Este filósofo espanhol do Século XVI (nascido em 1548), intitulado Doctor Eximius pela Igreja Católica, atuou no contexto cultural da chamada “escolástica tardia” na história da filosofia européia, e é considerado um percursor da modernidade, um pensador que trabalhou a ponte entre o Medievo e o futuro.
Jesuíta e totalmente integrado na instituição eclesiástica, Suárez como tantos outros foi um bom filósofo cristão e um bom católico por resolver problemas nos dois escopos do seu trabalho, de modo paralelo e complementar. Por um lado era necessário fazer combate teológico no contexto da Contra-Reforma, e por outro lado era conveniente usar e aperfeiçoar a melhor filosofia disponível na época.
Este volume que apresentamos agora, das Disputas metafísicas, números I, II e III, foi produzido nesse intuito de continuar a noção medieval da philosophia ancilla theologiae. O autor é primeiro cristão, e depois filósofo. Por exemplo, ele dedica sua obra à glória de Deus, especificamente de “Dei Optimi Maximi“, traduzido como “Deus Ótimo Máximo”, o que aliás é um termo muito conveniente para a minha própria filosofia, já que na Monadofilia um dos Cinco Conceitos Sinóticos é o da Condição do Escolhido, o Sumo-Bem que é totalmente compatível com essa designação de Suárez.
O próprio autor inicia este trabalho explicando a sua motivação originada na vida da Fé:

E ainda:
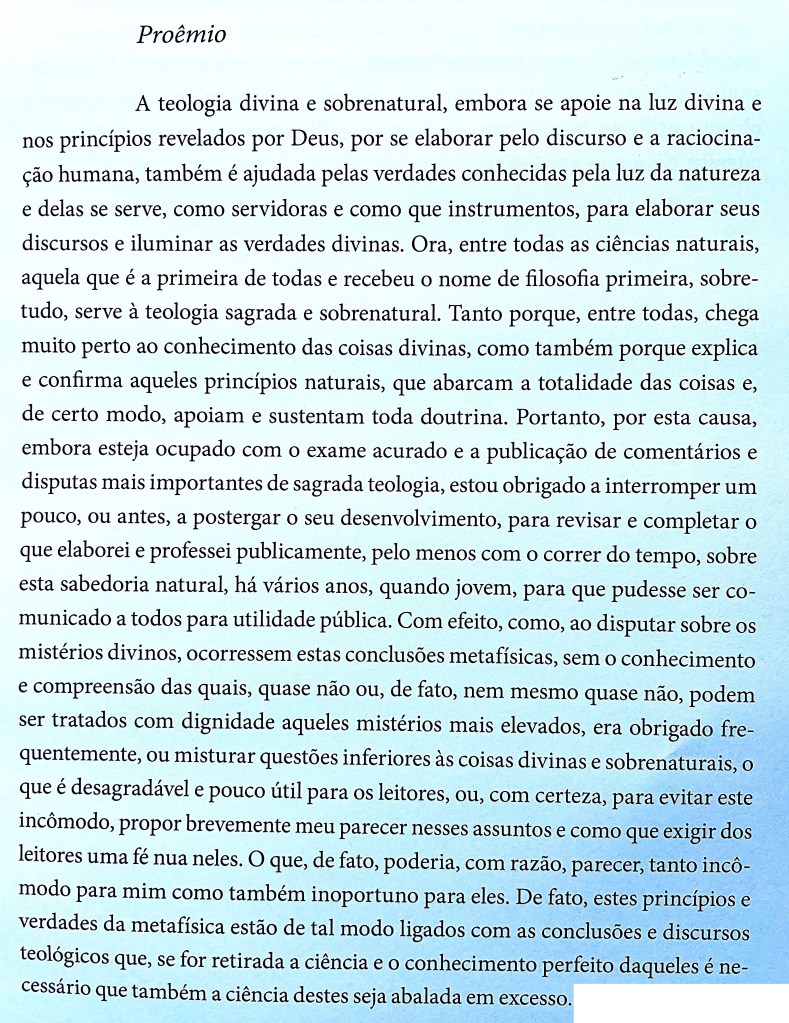
Isso tem que ser tratado de forma muito cuidadosa. Se alguém tiver a mínima impressão de que a Filosofia colaborou na intuição da Fé ou na recepção de quaisquer dons espirituais sem o recurso de um dom divino, não só fica frustrada a intenção do autor, mas o resultado se torna extremamente contraproducente. Esse perigo existe, é enorme, e está totalmente qualificado pela advertência do Apóstolo Paulo em Colossenses 2:8 onde ele diz: “Tomai cuidado para que ninguém vos escravize por vãs e enganosas especulações da filosofia, segundo a tradição dos homens, segundo os elementos do mundo, e não segundo Cristo.” Na dúvida, todo empreendimento filosófico é dispensável para a vida cristã. Somente com essa segurança é possível, apenas no intuito de “elaborar seus discursos”, como diz o autor, fazer uma filosofia cristã competente. Mas observem como na mesma sentença Suárez afirma algo no mínimo de mal gosto, quando fala de “iluminar as verdades divinas”. Ora, não só as verdades divinas são ilustradas pela Graça, mas também as verdades “não-divinas”, ou naturais, muito embora esse tipo de distinção já é problemática e leva por si a muitos erros. Com Agostinho nós tínhamos uma epistemologia muito mais segura: todo o conhecimento de qualquer verdade é produzido pela iluminação divina. Se era necessário separar e distinguir Teologia e Filosofia, isso não modificou o processo gnosiológico real que se refere a qualquer verdade. Em outros termos: toda verdade é divina, porque se Deus não nos dá o conhecimento, nós não o podemos possuir por nós mesmos. Ora, não podemos nem sequer existir por nós mesmos. A diferença entre Teologia e Filosofia é o objeto de sua ciência: o Ser divino revelado, por um lado, e o Ser possível por outro. De fato essas duas ciências se encontram no estudo da metafísica, onde se compreende a essência do Ser necessário em contraste com a essência dos seres possíveis, mas isso não modifica a estrutura e a hierarquia das coisas: toda verdade é conhecida através da infusão da Graça, e tudo o que o psiquismo humano produz com sua razão natural é uma especulação sobre a possibilidade de Ser. Deus revela o que o Ser é, e o ser humano por si apenas produz uma estimativa e uma especulação sobre o Ser possível. Se não fosse assim, nenhuma intuição seria viável, nem portanto nenhuma premissa seria autoevidente, e nem o próprio Princípio de Identidade seria seguro, e todo o edifício da Lógica seria destruído. Não quero afirmar que Suárez não soubesse disso tudo. Mas entendo que sua terminologia não teve o cuidado de precaver leitores futuros a respeito dessas distinções, leitores que seriam muito mais tentados à uma visão idolátrica naturalista do processo do conhecimento. O conhecimento como um todo é afinal misterioso o suficiente independentemente da abstração. Que possamos abstrair as essências das coisas concretas e concebê-las separadamente é algo maravilhoso, mas pensando bem o próprio conhecimento das coisas na sua concretude é miraculoso e revela o contato humano com algo de eterno. O foco de Suárez é a ciência metafísica em específico, e a justificativa da Filosofia para o auxílio da Teologia. Não se questiona a origem divina de todos os conhecimentos, inclusive os naturais, porque o entendimento é o de que tudo se sustenta na Graça divina de todo modo. Para um teólogo do Século XVI isso poderia parecer óbvio. Mas e para um leitor do Século XXI?
Suárez trabalhará na justificação da Filosofa em geral e da Metafísica em particular mergulhando detalhadamente no escopo desta ciência, através da definição precisa do seu objeto. Não precisamos acompanhar todo o seu raciocínio para aceitar que a Metafísica seja viável e conveniente, embora convenha observar que o conceito de matéria continua sendo problemático desde Aristóteles até esta época. Em suma, a Metafísica afirma o conhecimento do que é imaterial como precedente e mais excelente do que o conhecimento do material, porque o que possui mais ousia é o abstraído pelo pensamento, e não o composto (ou sínolo). Qual é, realmente, a novidade nisto? A experiência sensível revela de imediato o concreto como composto, mas o pensamento revela que a prioridade ontológica é da essência como Substância por excelência. Daí, como diz Aristóteles, o primeiro na ordem do conhecer é o último na ordem do ser, e o primeiro na ordem do ser é o último na ordem do conhecer. Quem lembrar bem do meu próprio estudo da Metafísica de Aristóteles recordará como é óbvio que o conceito de matéria é uma abstração em face do conceito de forma, idéia ou essência. Assim, quando se afirma que de um ente concreto se abstrai a forma da matéria, na verdade a operação separa o ser mais real, que tem mais essência –isto é, a forma–, do seu veículo de manifestação aos sentidos, que é a matéria que possui menos ser. A abstração aristotélica explica o processo gnosiológico do conhecimento teorético como derivado de uma suposta substância composta, mas o resultado da reflexão filosófica mostra o oposto, que na verdade o conteúdo formal abstraído da experiência é anterior, não só temporalmente mas ontologicamente, do seu elemento material que, por ser privado de qualquer qualidade, não passa justamente de ser apenas uma abstração conjeturada para a explicação da experiência sensível das formas. Bem entendidas as coisas, a Metafísica estuda a verdadeira realidade que é a das essências, do Ser pelo que ele é em si mesmo, enquanto as outras ciências estudam propriedades derivadas da experiência da manifestação dessas essências, como a matemática que considera o Ser apenas pela noção da quantidade, ou a física que considera o Ser apenas pela noção do movimento, etc.
O conhecimento imediato do composto, ou sínolo, através das sensações, é a experiência da intuição da unidade da essência no contexto das funções da Percepção de um intelecto limitado, isto é, na compressão das funções dimensionais adequadas ao nosso modo de conhecer. O Múltiplo, assim, ou o devir, é um reflexo do Ser conhecido de modo limitado por intelectos finitos que não poderiam conhecer a Unidade do Ser de outro modo, porque somente um intelecto divino, infinito em ato, tem a virtude do domínio intelectual do Ser. Dito ainda de outro modo (e digo tudo isto apenas para alinhar as coisas na direção da justificativa da Metafísica, que é o empreendimento inicial de Suárez nesta obra das Disputas), a Relação Uno-Múltiplo em Deus é de perfeita identidade, porque sua entidade e sua essência são idênticos, como diria Tomás de Aquino. Em Deus, o Reflexo manifesta perfeitamente o Ser, de modo integral, total, acabado, simultâneo e eterno. Deus conhece e ama eternamente a Glória de seu próprio Ser, por isso é dito a seu respeito que é Feliz, ou Bem-Aventurado, etc. O intelecto criado, limitado e finito, não pode conhecer o Ser senão por um Reflexo adequado ao seu modo de cognição. Isto é: a Glória divina é conhecida pela criatura através da manifestação limitada do Ser do Uno no Reflexo do Múltiplo. O limite da simultaneidade gera a função dimensional do espaço, enquanto o limite da sucessividade gera a função dimensional do tempo, etc. A prioridade da Metafísica se justifica porque se requer o conhecimento do princípio original, ou causa primeira, que explique a experiência do Ser tanto no incriado quanto no criado, e que também explique a analogia entre estes. Esta deve ser a ciência das causas primeiras e, como entendo, da Substância Simples, ou Monadologia, e do Reflexo Uno-Múltiplo como estrutura fundamental o ser e do conhecer.
No que a contribuição de Suárez se destaca eminentemente? Como um precursor dos desdobramentos da futura filosofia, e em linha com as contribuições anteriores dos já por mim citados filósofos franciscanos, pela qualificação mais perfeita da Metafísica que abre de modo franco e inevitável a possibilidade do subjetivismo e, através deste, do idealismo alemão e da fenomenologia. Ademais, Suárez trabalha com atenção também no problema da Unidade como matriz ou forma essencial primária, no que provavelmente inspirou filósofos como o próprio Leibniz, e na diferenciação entre a Substância incriada e as criadas, uma noção que é cara por exemplo ao meu próprio sistema. Suárez foi um filósofo importante para a consolidação e transmissão dos melhores avanços da filosofia medieval para as futuras gerações. Se há, portanto, um autor cuja obra serve de prova direta da falsidade da suposta ruptura entre a “Idade das Trevas” e o “Iluminismo”, este autor é Suárez. Note-se, porém, que nem todos os modernos reconhecem as luzes medievais mediante o estudo de autores como Suárez. Justamente os pensadores mais imbuídos da pretensão da ideologia iluminista rejeitaram esse legado. E cabe a esses últimos a falsidade da suposta superação da filosofia medieval pelas luzes modernas. Os danos que essa farsa geraram são experimentados até hoje na cultura acadêmica e científica. Com frequência observa-se a ignorância de pensadores como Wolfram, por exemplo, que teriam um enorme potencial a ser desenvolvido se apenas descobrissem as filosofias que foram injustamente desqualificadas pelos preconceitos da tradição analítica, anti-idealista e anti-fenomenológica, herdeira dos vícios iluministas. Por nenhuma outra razão as interpretações mais convenientes das implicações da física quântica são inviáveis, senão por essa estúpida restrição cultural aos limites da filosofia analítica e às imaginações pueris da ideologia orientalista da Nova Era. A melhor filosofia medieval, como a de um Suárez, é capaz de integrar as descobertas da física quântica numa explicação robusta do Ser, bem como suas herdeiras modernas, em especial a filosofia leibniziana.
O objeto que Suarez determina para a Metafísica é o ente, o Ser do modo mais universal, que supera a Substância que sob este aspecto é apenas uma espécie de ente cuja diferença específica é o de subsistir por si mesma. O ente inclui o ser dos acidentes que possuem entidade embora somente por predicação da Substância. Isto quer dizer que o conjunto dessa realidade ou entidade dos acidentes constitui aquela pluralidade do idealismo platônico? Não, porque devem ser somente realidades abstraídas pela razão, como diria Aristóteles. Mas não deixam de ser verdades objetivas para a Metafísica, que as diferencia e classifica para fazer suas distinções próprias. Não seria possível, por exemplo, afirmar a diferença ontológica entre incriado e criado se a Metafísica só estudasse as Substâncias enquanto tais, já que a diferença entre o incriado do criado está na entidade, e esta diferença só pode ser compreendida pela Metafísica. Monadofilicamente, compreenderíamos assim: uma ontologia geral, com o critério único da Substância, compreenderia apenas o que chamamos de “mônada indiferenciada”, mas uma Metafísica pode discernir entre as mônadas diferenciadas justamente porque distingue os graus de entidade dessas realidades que são ontologicamente idênticas na sua forma substancial. Sendo sincero com vocês, acho que esse tipo de distinção é viável, mas não é muito produtiva. É o tipo de sutileza que começou a irritar a mentalidade moderna, e talvez em parte não sem alguma razão.
Da já falada abstração da matéria como função do entendimento metafísico da realidade, encontramos uma passagem significativa a esse respeito:

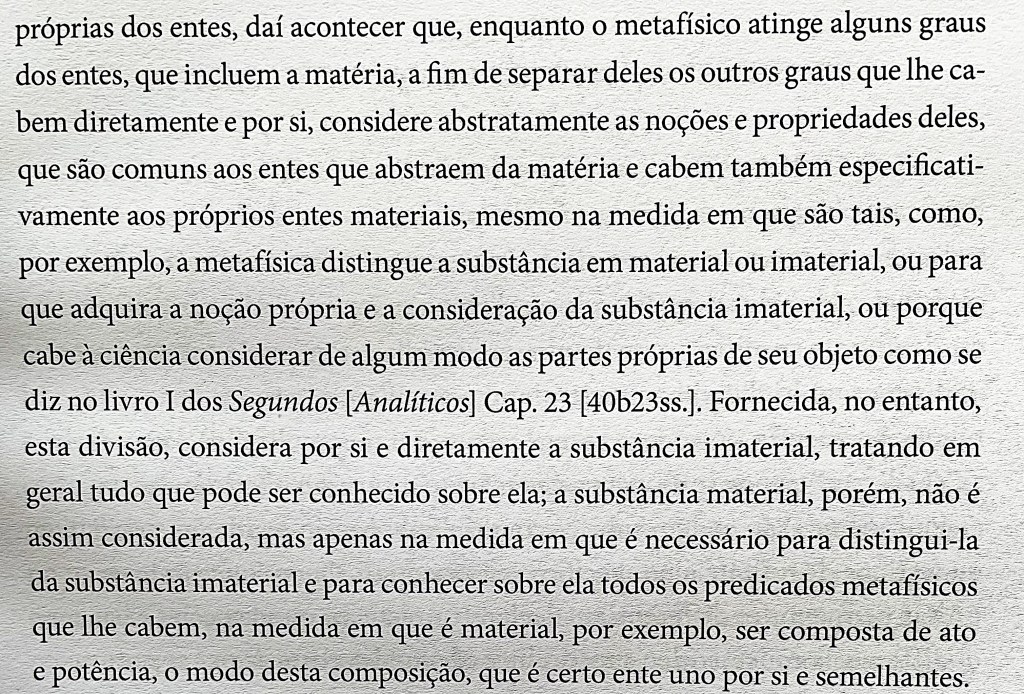
Novamente compreendemos que o que interessa, metafisicamente, na matéria é o discernimento de sua função para o entendimento daquilo que não é material. Quando a ciência sobre a matéria se torna produtiva tomando-a como objeto próprio, já falamos de uma matéria secundária, “assinalada pela quantidade”, como diriam os escolásticos, o que importa apenas para compreender as causas inferiores do ser, quais sejam, a material e a eficiente (e esta última apenas nos níveis intermediários e mais próximos do efeito, desconsiderando a imaterialidade das causas primordiais).
Em certo momento Suárez finalmente arrisca sua definição da ciência metafísica, embora o faça quase que de maneira banal e descompromissada, apenas para produzir um outro argumento. Diz ele: “a metafísica é a ciência que considera o ente na medida em que é ente ou na medida em que abstrai da matéria de acordo com o ser“. Uma conjunção alternativa nunca cai bem numa definição rigorosa, mas vamos tentar esmiuçar. O ente na medida em que é ente é o ser independente da substancialidade, ou seja, o ser por si e o ser por outro, tanto a essência quanto o acidente. Já o ente que abstrai da matéria de acordo com o ser é aquele que subsiste independente do material, e isto vai bem de acordo com as definições mais clássicas da Metafísica: simplesmente, o que é além do físico, ou independente do físico. O que convém lembrar para justificar o cuidado com essa terminologia, porém, é que se o que é metafísico considerasse apenas o ser imaterial, isso não implicaria no reconhecimento da prioridade ontológica do que é metafísico. Se o imaterial fica “ao lado”, no mesmo nível, do que é material, isso começa a gerar as implicações que produzirão todo tipo de dualismo futuro, como o maior erro consequente da filosofia cartesiana, por exemplo. O que “abstrai da matéria” seria o simplesmente imaterial, o não físico. Mas o que “abstrai da matéria de acordo com o ser” é o que subsiste independentemente do material ou físico pela sua própria forma substancial. Isso poderia parecer uma distinção prosaica ou mesmo inútil, mas não se lembrarmos que o material não pode existir sem o formal senão como aquela pura abstração que é a matéria-prima na ontologia. Ou seja, o metafísico como imaterial supera o material ou físico de todos os modos, porque quando a matéria é cognoscível ela recebe substancialidade da forma, e quando ela prescinde totalmente de qualquer elemento formal, ela se torna justamente incognoscível a tal ponto que sua existência só pode ser cogitada. Em suma, e para resumir, Suárez trabalha numa linguagem necessária para manter a hierarquia da realidade na sua devida ordem, onde a forma ou essência atua como princípio anterior ao físico ou material. Seria impossível eu afirmar, por exemplo na minha Monadofilia, que a sensação é produzida pela experiência do reflexo do Ser, se o caráter intelectual da realidade tanto do sujeito quanto do objeto não fosse eminente, e o sensível não fosse o mero produto manifestado dessa relação intelectual entre o Ser e o seu reflexo. Eu não teria aprendido a viabilidade do subjetivismo do Idealismo Transcendental sem o trabalho prévio dos filósofos que herdaram por seu turno essa lógica da filosofia de pensadores como Suárez.
Tratando-se de distinções valiosas a respeito dos objetos mais elevados da especulação humana, nosso autor nos fornece o seguinte insight:

Podemos pensar, assim, no que diferencia a Filosofia da Metafísica e da Teologia, por um ângulo diferente do habitual: a Filosofia trataria de tudo o que é universal de modo indiferenciado e por princípios gerais aplicáveis a quaisquer ciências particulares; a Metafísica trataria do Ser (ou ente) enquanto tal, tanto pelo essencial ou pelo acidental, abstraída a matéria; e a Teologia trataria do Ser da causa primeira. Como já disse antes, Suárez acerta com sua ênfase na importância da diferença entre criado e incriado, diferença essa que explica, como vimos acima, porque a Metafísica é a ciência do ente, e não da Substância.
Tratando da finalidade da Metafísica, entre suas várias observações muito apropriadas, Suárez nos lembra que a realidade dos objetos de todas as demais ciências não pode ser atestada senão por esta ciência suprema:
Não é incomum que isto seja esquecido ou mesmo dispensado das considerações daqueles que professam a ideologia cientificista. Todos os princípios e as primeiras premissas de todas as ciências particulares são garantidas por algum tipo de filosofia metafísica, pois sua justificação não pode, por definição, compor o estudo de sua própria ciência, já que esta só estuda o que é definido como posterior ao princípio assumido como premissa. Isto quer dizer que mesmo que de modo omisso, ou pouco refletido, há sempre algum pensamento do tipo metafísico sustentando todo o empreendimento das ciências naturais. Os juízos que atestam a realidade da entidade dos objetos das ciências particulares o fazem de modo acidental, como juízos de fato (Leibniz), ou sintéticos (Kant), e reconhecem a sua veracidade por aplicação de algum princípio herdado de outra fonte, que deve ser algum tipo de Metafísica. Em outras palavras, é a Metafísica que pode afirmar a verdade dos objetos de todas as ciências.
Vamos explorar um pouco mais este conceito, para deixar claro como esse plano de reflexão é inevitável. Usemos exemplos mais acessíveis para as pessoas em geral. Quando assistimos filmes que questionam a natureza da realidade, por exemplo, lidamos com o mesmo referencial que Suárez usa para justificar a Metafísica. Quando no filme Matrix o personagem Neo imobiliza as máquinas no mundo que os personagens entendem ser uma realidade não simulada, isso gera a reflexão de que seria possível que esta dimensão fosse apenas mais um nível da Simulação das máquinas. Ou então, no filme A Origem, quando Cobb gira o seu peão, que tem a função de totem, e se distrai com as imagens de seus filhos e não vemos se o peão pára de girar ou não, também reflete-se se aquela experiência seria apenas o produto de um novo sonho, ou se seria uma realidade. Por que podemos questionar a natureza da realidade? Porque a veracidade dos objetos da experiência pode ser ilimitadamente questionada e é preciso que um outro tipo de conhecimento forneça os meios de aferição da verdade da estrutura da realidade. Esse outro tipo de conhecimento só pode ser do tipo metafísico, pois dispensa qualquer experiência particular por governar todas as experiências possíveis. Isso porque o objeto da Metafísica é justamente o Ser enquanto tal. É disto que Suárez está falando quando explica que a finalidade da Metafísica é a justificação dos objetos de todas as ciências.
Este assunto não é de menor importância no plano das questões espirituais, porque a experiência da Dúvida Total, que toma a forma de uma malícia nas doutrinas luciferinas e adâmicas, só é possível quando a necessidade da filosofia Metafísica é dispensada. Como é que primeiro Lúcifer, e depois Adão, puderam questionar a veracidade da divindade do Criador, se não fossem livres para reconhecer justamente o termo inicial, ou Primeiro Princípio, como uma necessidade de tipo metafísico e, junto com isso, a admissão de sua ignorância terminal com relação ao domínio gnóstico desse termo inicial? Em outros termos: estes personagens só puderam duvidar, como nós hoje também podemos, porque são livres para reconhecer ou não, em primeiro lugar, que algum termo inicial na série causal é necessário (mesmo com a eternidade do movimento, como com o Primeiro Motor Imóvel de Aristóteles), e em segundo lugar, que nós não possuímos o domínio cognitivo a respeito da essência e da natureza desse termo inicial, cuja natureza só pode ser estimada e confiada.
O nosso autor tratará da Metafísica como uma ciência própria e digna, suficientemente diferenciada e justificada, e fará isso de modo bastante exaustivo e na verdade único na História da Filosofia, desde Aristóteles. Parte a parte ele monta a sua argumentação bastante completa sobre esta ciência, fornecendo idéias instigantes, fazendo observações frutuosas, e sempre honrando o legado do Estagirita e respeitando os seus mais importantes comentadores.
Quando versa sobre o grau comparativo de certeza que a Metafísica possui em comparação com as demais ciências, Suárez se vê obrigado a reconhecer que a excelência do objeto da Metafísica como que toma emprestado de dons sobrenaturais para a consideração da sua prioridade:

Nesta sua linha de raciocínio o nosso autor dá um testemunho suficientemente valioso do dom da Presença para que seja notado como relevante. Ele reconhece que a perfeição do que é divino leva a ciência humana que tem por objeto o grau mais universal de entidade, isto é, a Metafísica, a se tornar milagrosamente mais certa e infalível justamente sobre o que seria mais obscuro, distante e misterioso, e isso só poderia se dar por um aporte sobrenatural ao intelecto humano.
Quem requeira uma evidência de que a Filosofia de Suárez é serva da Teologia, em acordo com toda a tradição escolástica, pode encontrá-la nesta passagem, por exemplo:
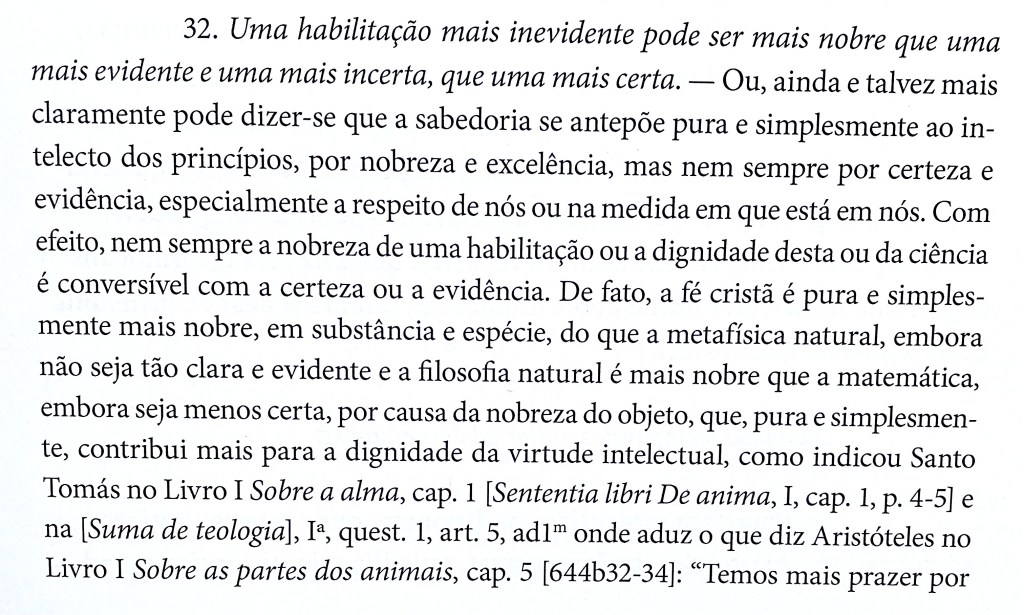

A Sabedoria é dom divino, concedido por iluminação tanto quanto os dons que sustentam a razão natural, mas capaz de produzir intuições que superam tudo o que o intelecto criado é capaz de demonstrar e explicar por seus recursos. Sustenta-se, assim, com Suárez, tanto o dom de Soberania quanto a integridade e prioridade da vida espiritual em face de qualquer Gnose possível. Primeiro vem o amor a Deus, o Primeiro Mandamento, e depois vem o filósofo cristão dar suas melhores explicações para honrar e glorificar a Sabedoria divina a qual recebeu acesso e participação previamente, por efeito da Graça santificante. Diante de Deus só se sustenta a santidade do Amor, nunca a Gnose, seja de qualquer criatura que seja (Coram Uno Amor Tantum, como diríamos).
A Disputa II é enfadonha e pouco produtiva para o nosso ponto de vista, isto é, para a produção de um testemunho espiritualmente conveniente a um público em geral. Como já vimos desde o começo das análises a respeito da Filosofia Escolástica, esta é uma literatura destinada a um público tecnicamente especializado, treinado por gerações dedicadas no âmbito da cultura da Universidade medieval. Toda essa leitura é árdua para nós hoje, no Século XXI, com a exceção daqueles que estudam esse período em específico de modo mais profundo. A Disputa I identificou o ente como o objeto da Metafísica, e qualificou esta ciência de modo exaustivo. A Disputa II qualificará o objeto da ciência, digamos a “entidade”, com nuances e sutilezas que são espiritualmente inócuas, como fazendo a distinção entre noções de vários tipos, conceitos formais e objetivos, etc. Podemos dispensar uma análise desses argumentos. Quem se interessar por isso pode consultar a obra diretamente, fazendo inclusive uso de um recurso que por bondade o Editor forneceu no trabalho publicado, ao fim deste volume, que é um “Roteiro do parecer se Suárez sobre o conceito de ente (Disputa II, Seções I e II)“.
Só voltamos a encontrar algo mais interessante para o nosso uso na Disputa III, quando Suárez fará uma afirmação sobre as afecções do ente:


Isto nos convém porque confirma a Analogia Trinitária que já postulei como observação dentro do escopo da Monadofilia, de que ao Pai corresponde o Ser, a Substância ou a Mônada, ao Filho o Conhecer, o Intelecto ou a Percepção, e ao Espírito Santo o Amar, a Vontade e a Apetição. Pai, Filho e Espírito Santo são as Pessoas divinas qualificadas para a integridade da suficiência do Deus único; Ser, Conhecer e Amar são os modos de entidade que correspondem à Substância, que é a Mônada (simples, sem partes), ao Intelecto que gera a Percepção, e à Vontade que gera a Apetição. Tudo isso identifica a perseidade do Ser: sua substancialidade, sua veracidade e sua bondade. Como isto é realizado? No ser divino, que é a Mônada Incriada, pela sua infinitude em ato e identidade de essência e existência (ou entidade). No ser criado, pela Relação entre o Uno e Múltiplo: o ser reconhece na parcialidade da sua finitude a sua subsistência, a sua veracidade, e a sua amabilidade, isto é, que possui ser intuído como Unidade, que o ser é veraz para o Intelecto, e que é apetecível para a Vontade. Estas distinções todas, porém, lembremos sempre, não separam o Ser na realidade, mas apenas no nosso entendimento, que é a função da abstração. Como a forma do Ser é a Unidade, convém recompor a sua integridade depois da abstração de suas propriedades, tanto quanto convém reconhecer a integridade da Unidade divina concomitantemente à consideração das Pessoas da Trindade.
Quando Suárez afirma essas afecções do ente, em particular na passagem abaixo, ao afirmar as faculdades universais ligadas à Unidade do ente, podemos perceber claramente que isto inspirou a Monadologia de Leibniz:

Se alguma ruptura pode ser afirmada entre a Filosofia Medieval e o Iluminismo, ela pode ser encontrada talvez com mais acerto em germe na obra de Descartes e muito mais ainda entre outros pensadores futuros, mas não por toda a modernidade. Desdobrados os Séculos, encontramos uma continuidade da pesquisa metafísica aristotélica (que por sua vez herdava o problema da Relação Uno-Múltiplo de Platão, Parmênides e Pitágoras) no neoplatonismo plotiniano, e depois na pesquisa medieval que chegou até Suárez e foi continuada por filósofos como Leibniz ou, até certo ponto, mesmo Kant, gerando as noções que animaram tanto o Idealismo alemão quanto a Fenomenologia, entre outras produções da filosofia européia continental. Onde se encontrou alguma ruptura? Provavelmente na tradição da Filosofia Analítica, a herdeira mais legítima da tabula rasa iluminista, e isso com imensas repercussões na cultura moderna a nível mundial, em virtude da vasta influência do Império Britânico e de sua mais poderosa filial, os chamados Estados Unidos da América. A Metafísica não foi, assim, tão perdida no princípio da Europa moderna como um todo, mas muito mais do outro lado do Canal da Mancha. O quanto, por exemplo, os físicos quânticos se atrapalham para significar filosoficamente as conclusões retiradas dos seus estudos mostra como sua a cultura é pobre de recursos metafísicos como consequência dessa etapa da História da Filosofia. O resultado prático observável da vitória colonial de uma certa cultura iluminista a partir da influência da Filosofia Analítica foi a proliferação de uma subcultura cheia de superstições e misticismo barato, e a importação de supostas sabedorias orientais no bojo do crescimento desse constrangimento intelectual que é a Nova Era. Sobretudo contra a ideologia cientificista vale a pena ler Suárez e observar como é integrável a sua visão já quase moderna da Metafísica a todas as demais contribuições das investigações posteriores de todas as ciências naturais.
Nota espiritual: 5,2 (Calaquendi)
| Humildade/Presunção | 5 |
| Presença/Idolatria | 6 |
| Louvor/Sedução-Pacto com a Morte | 5 |
| Paixão/Terror-Pacto com o Inferno | 5 |
| Soberania/Gnosticismo | 6 |
| Vigilância/Ingenuidade | 5 |
| Discernimento/Psiquismo | 5 |
| Nota final | 5,2 |