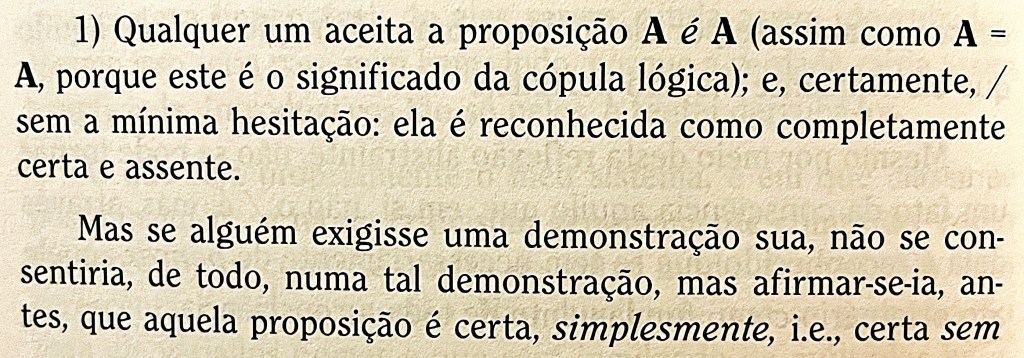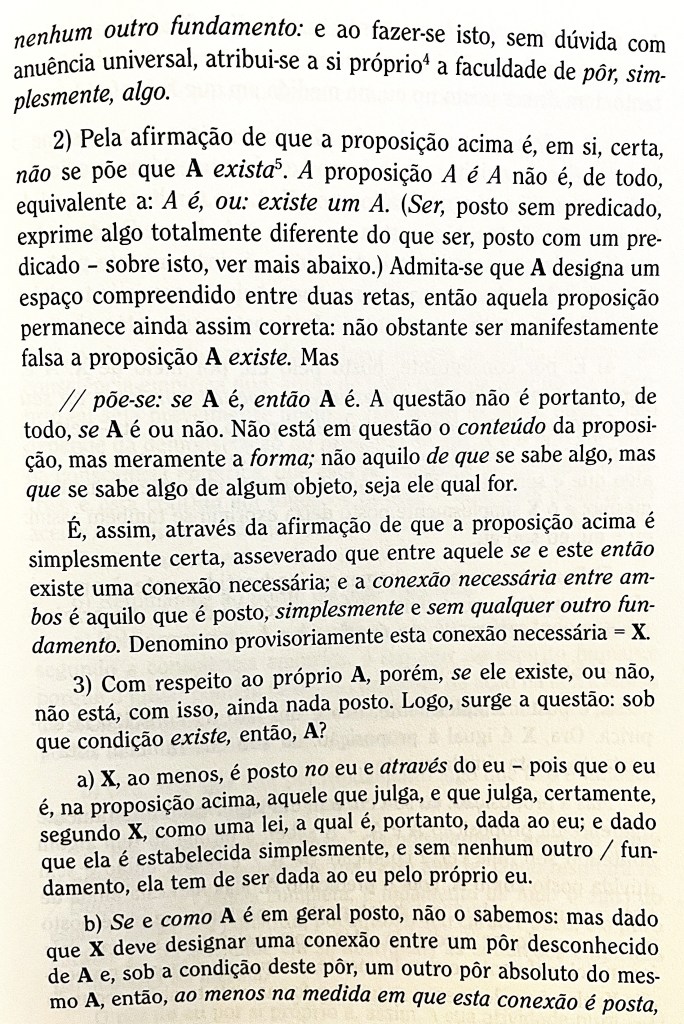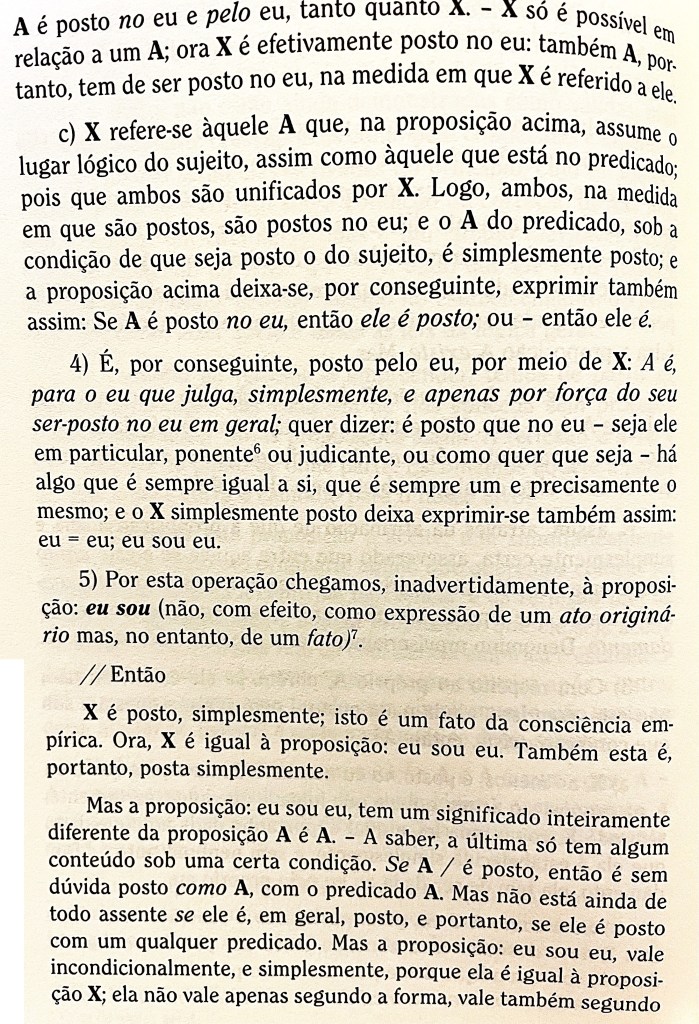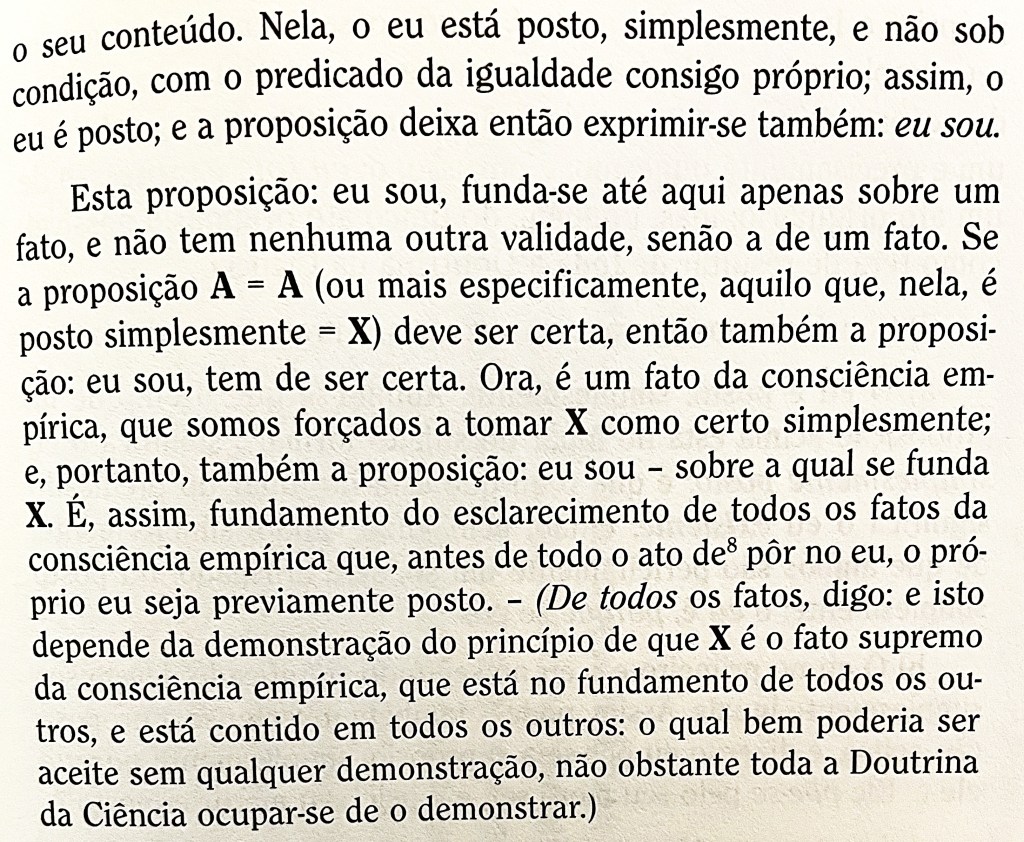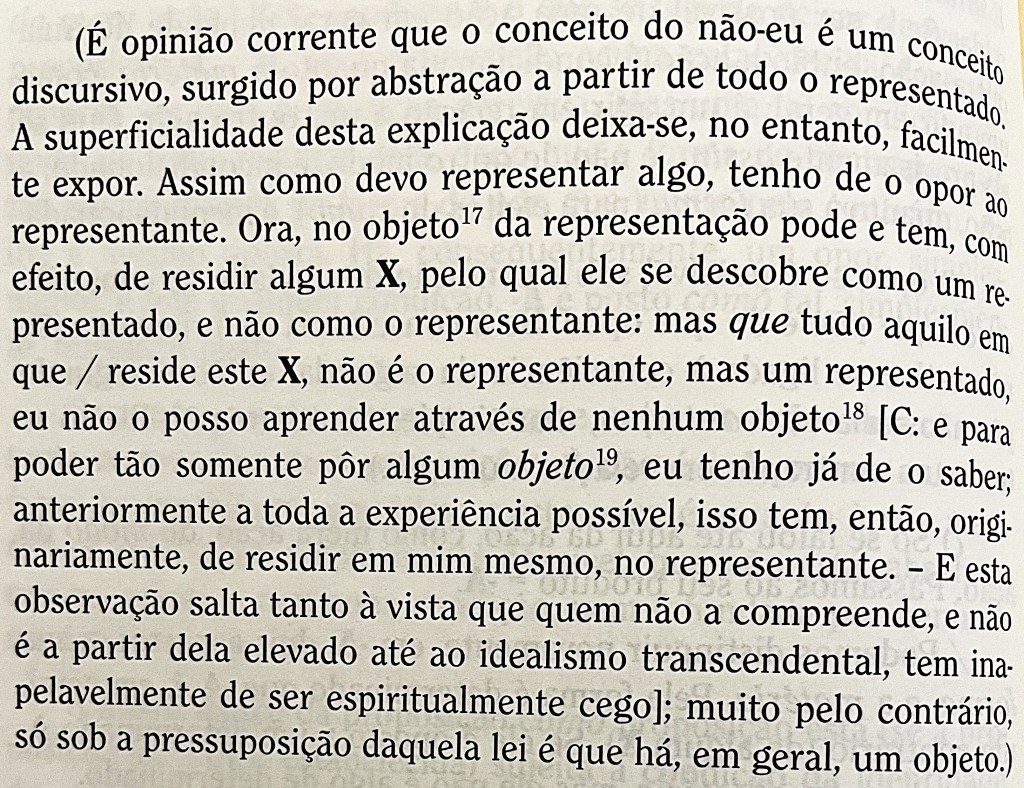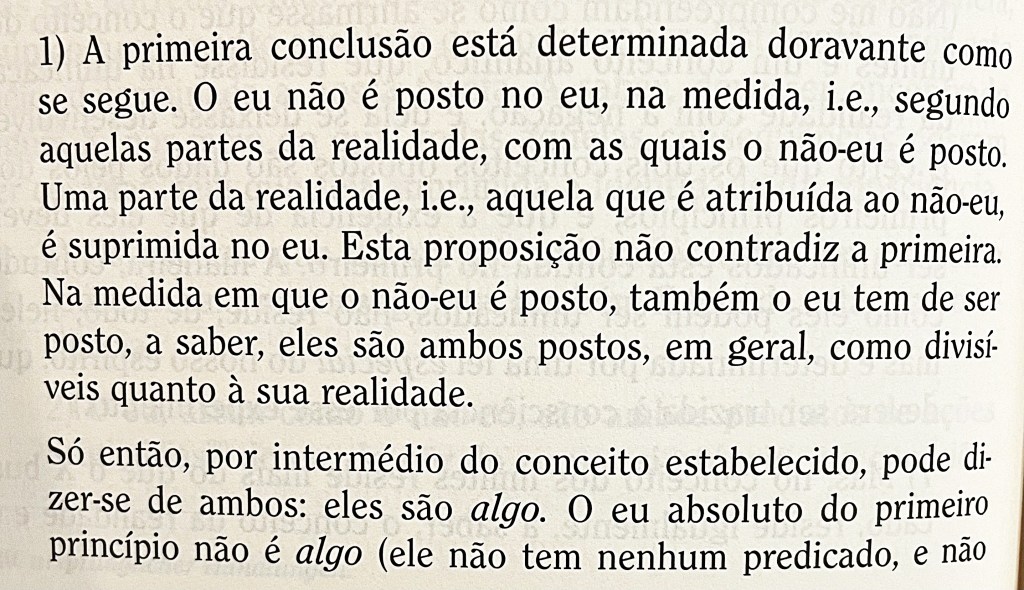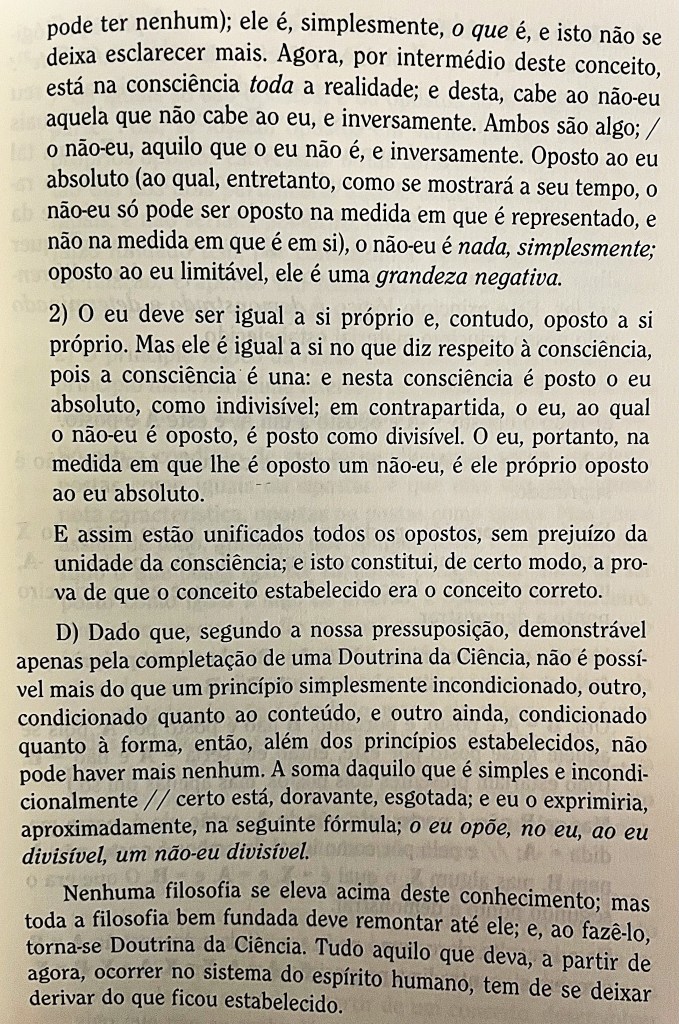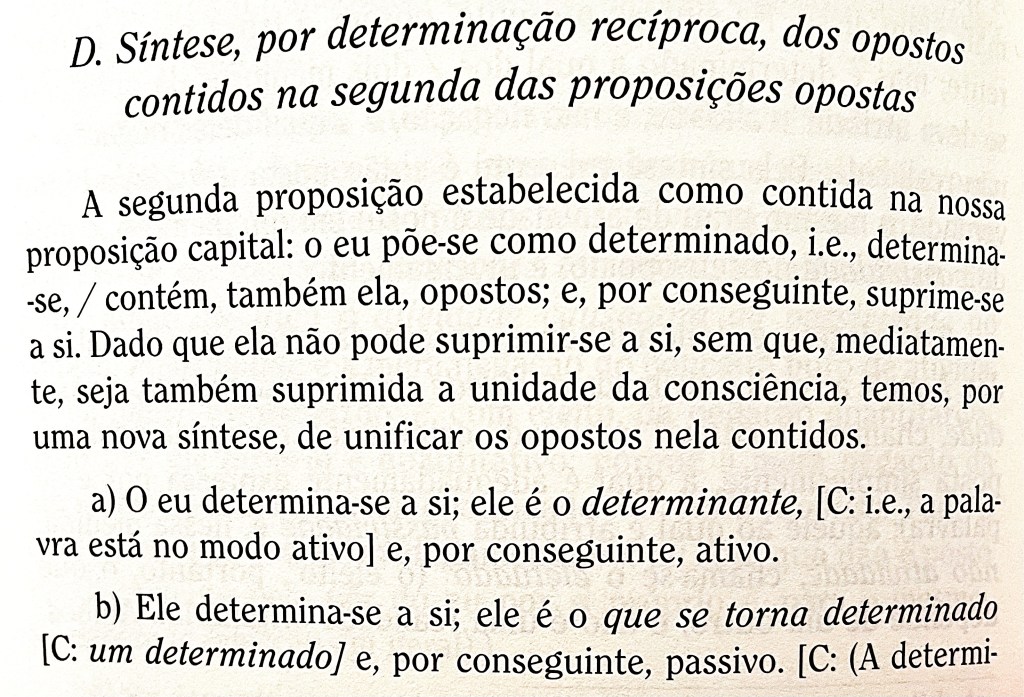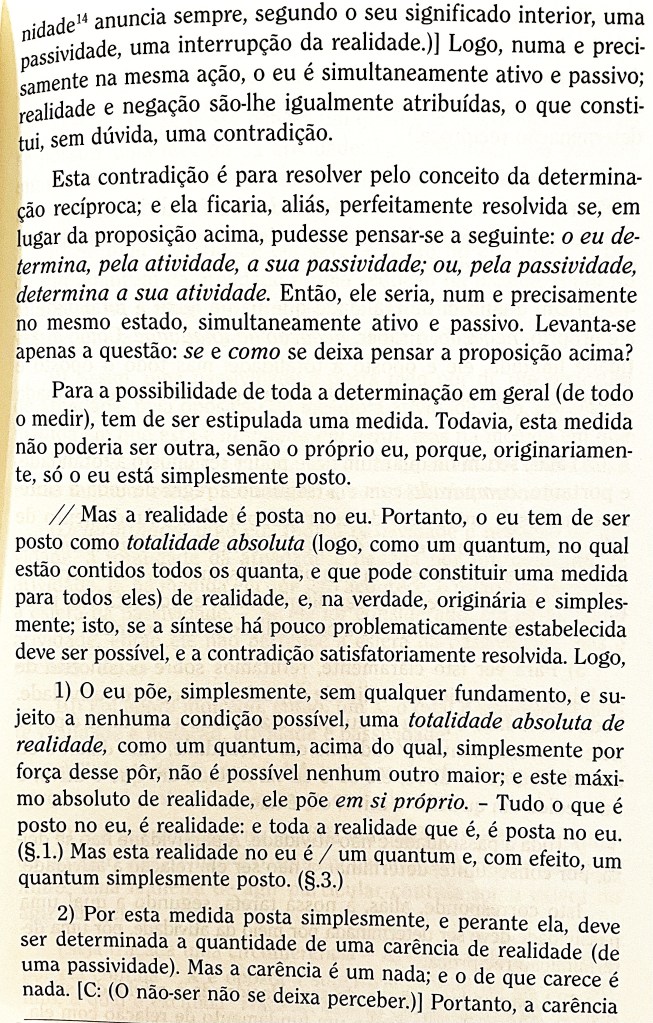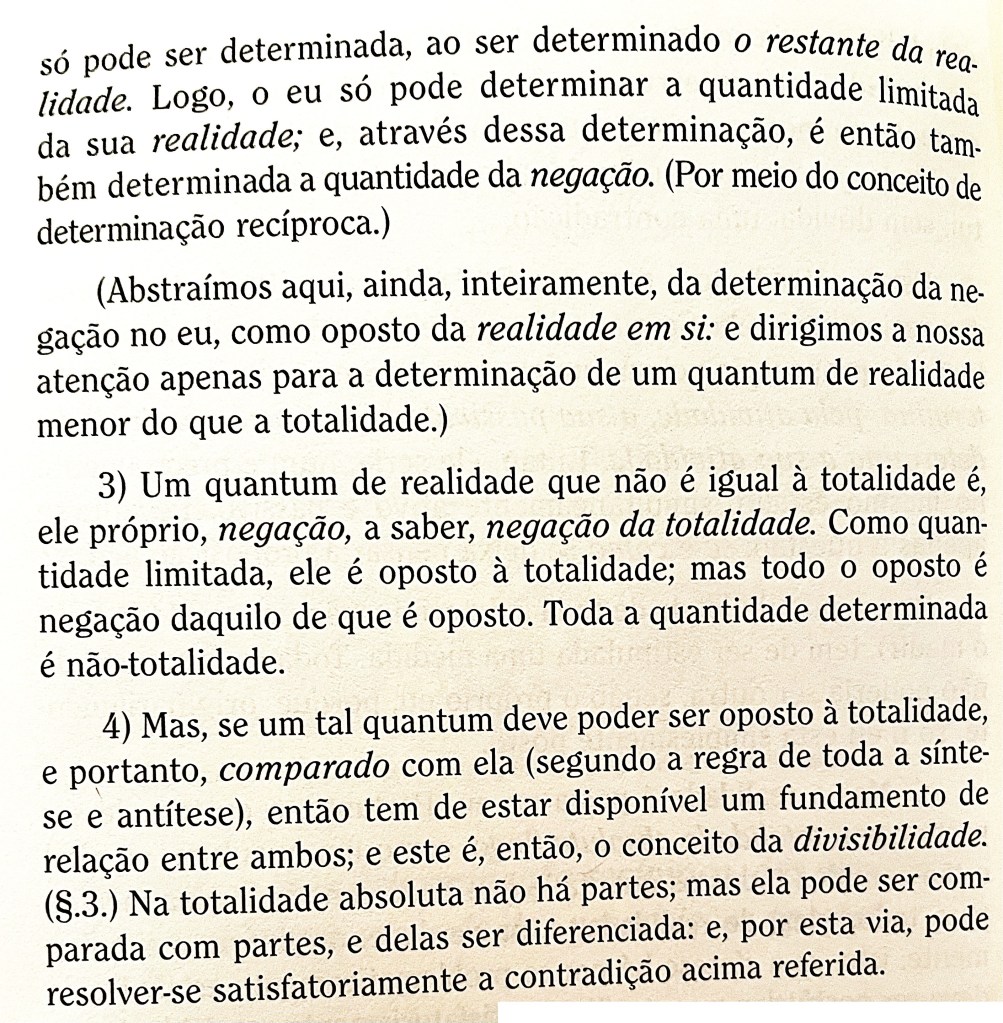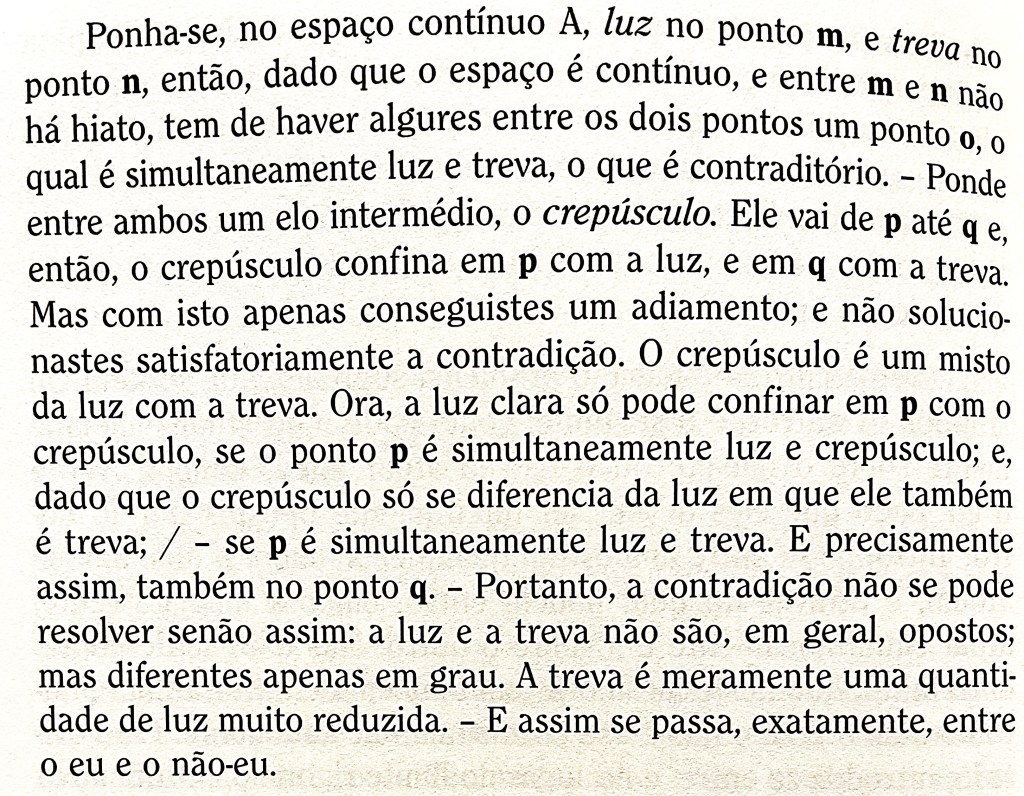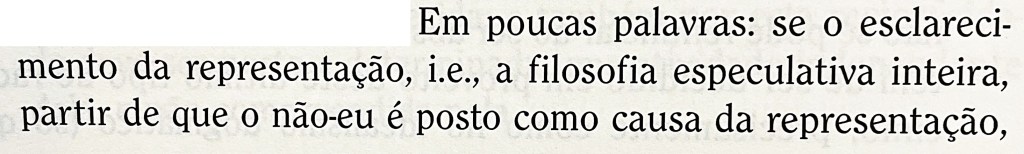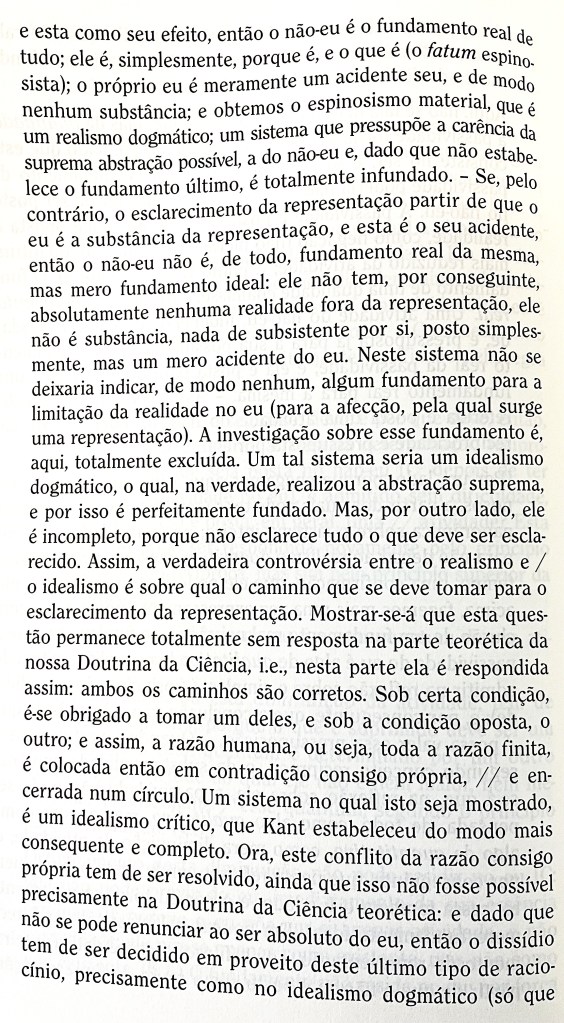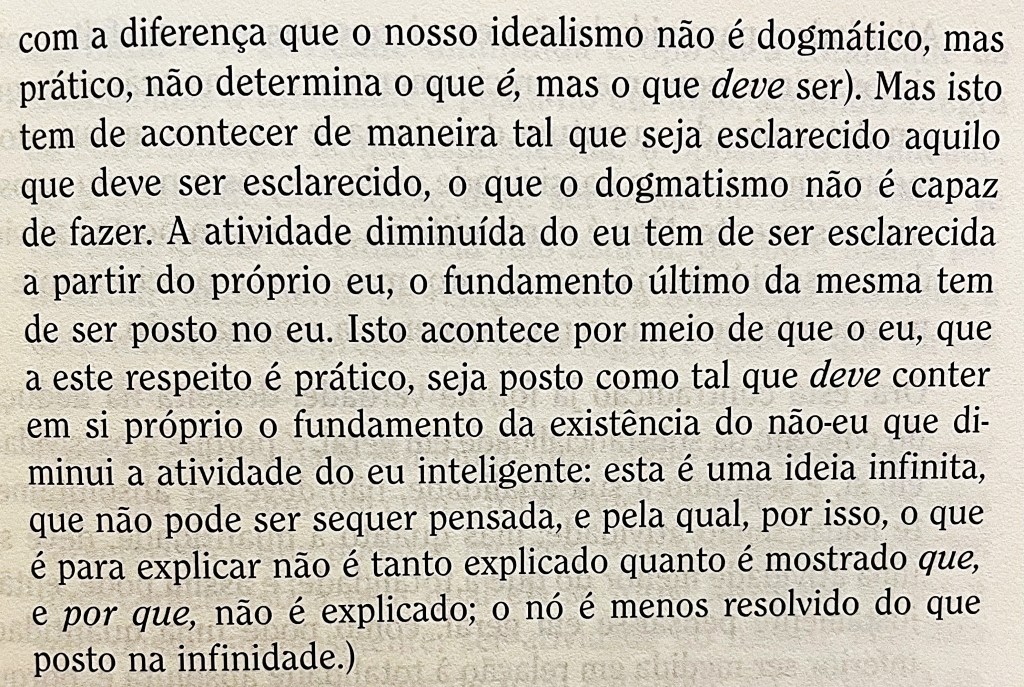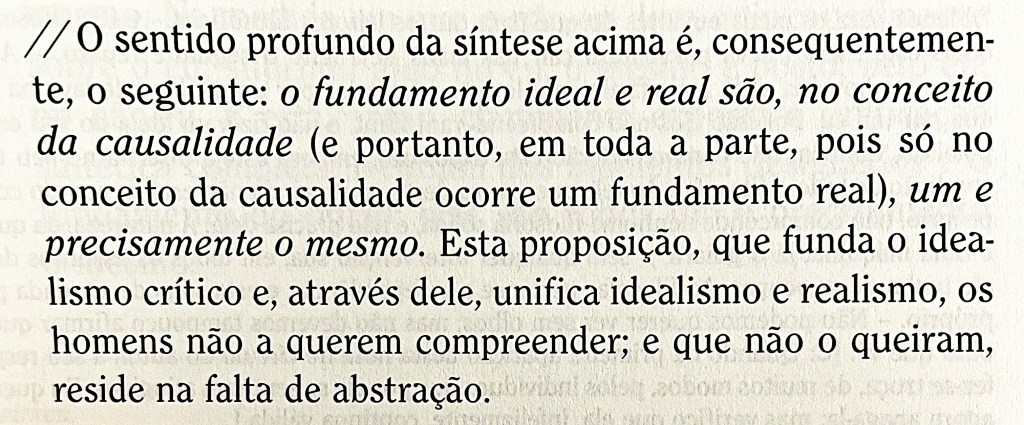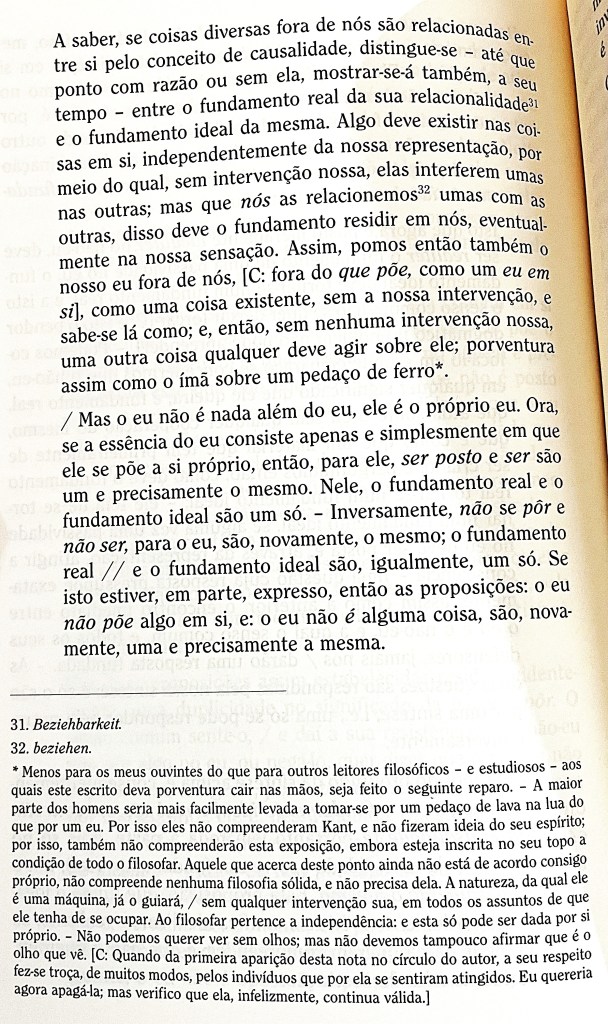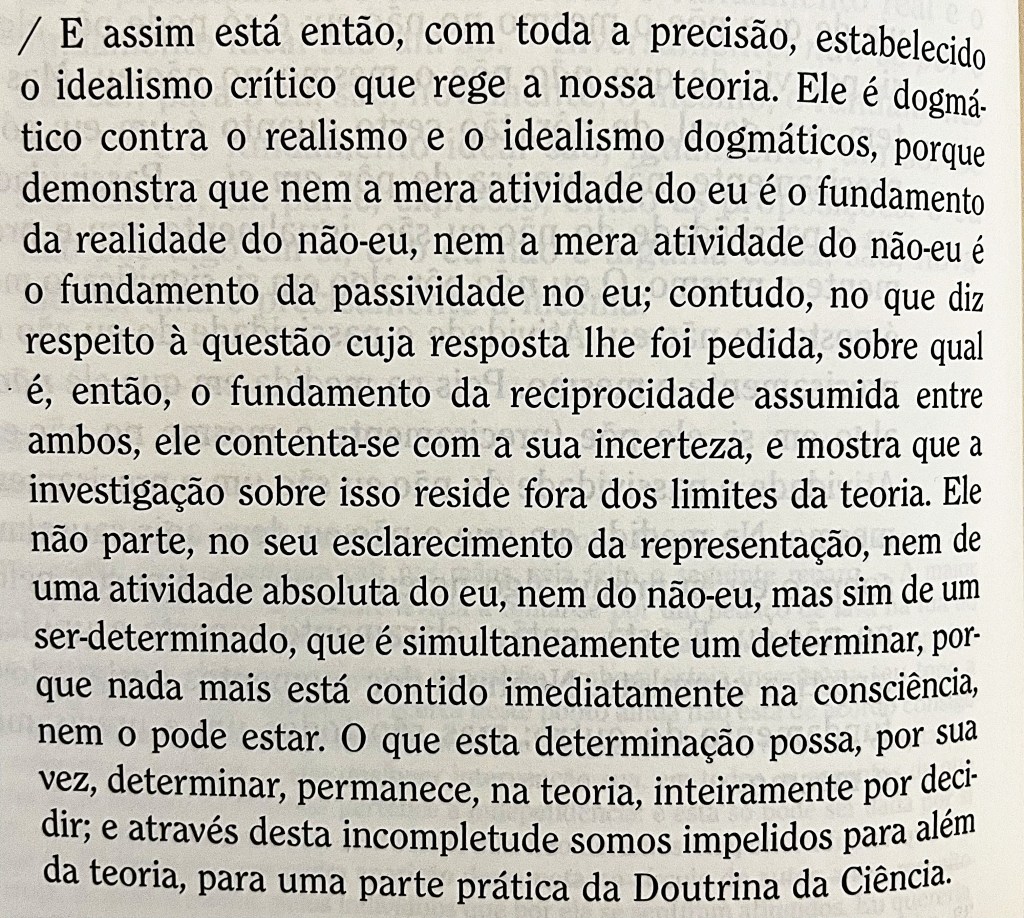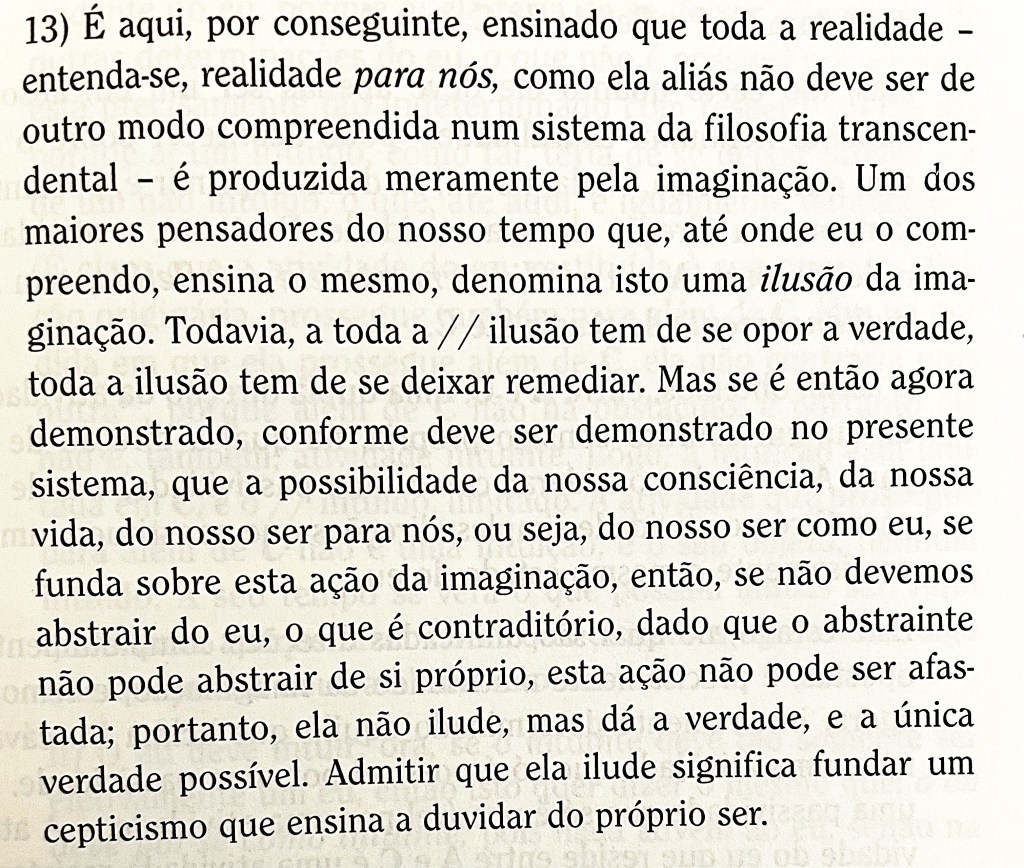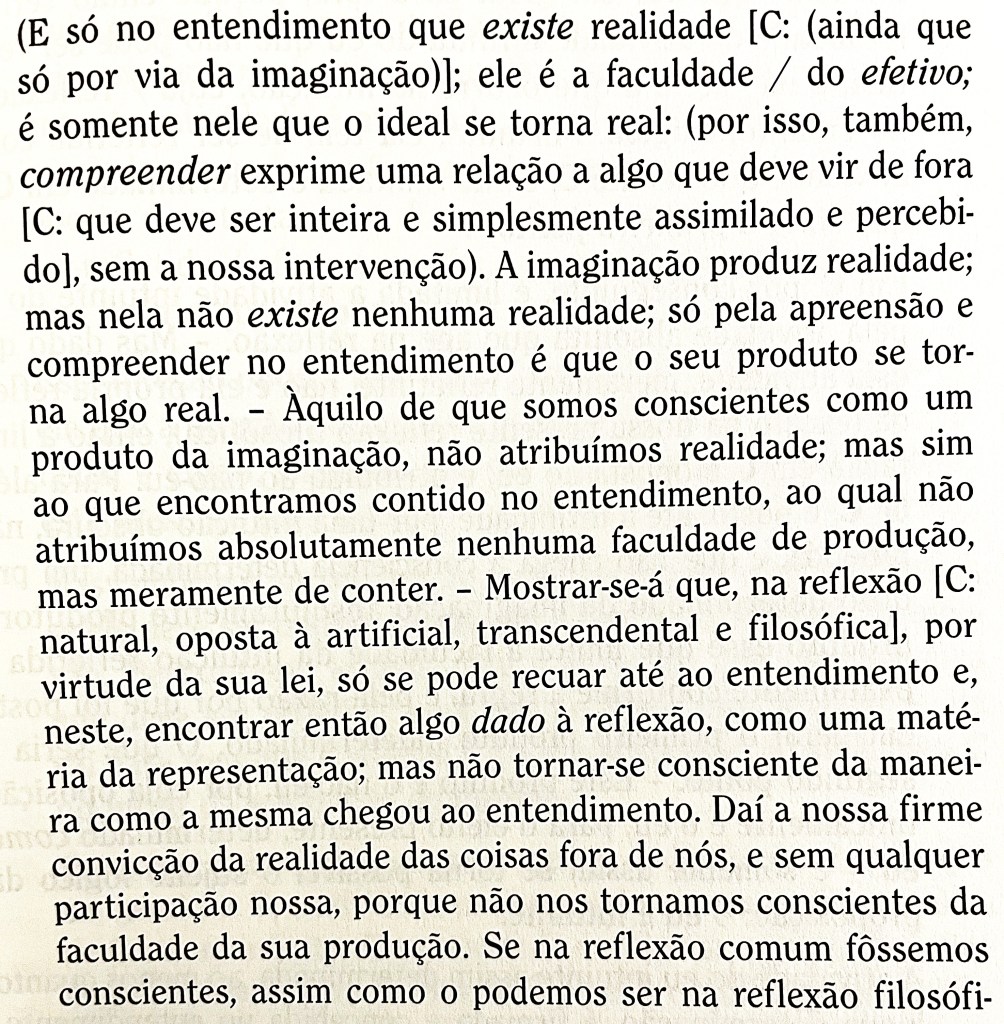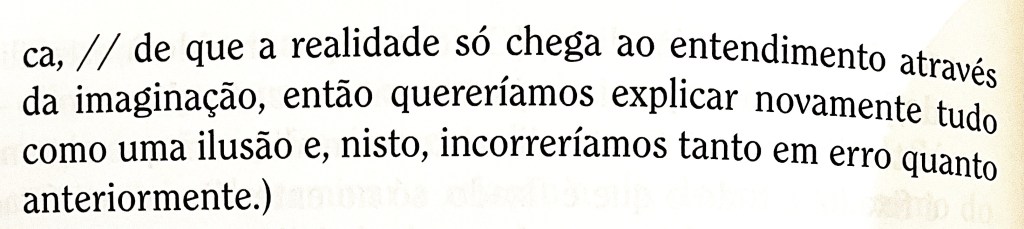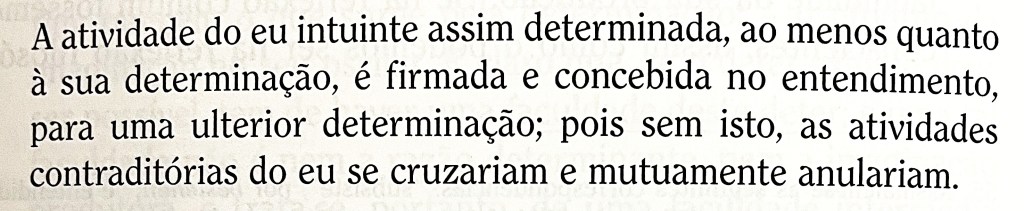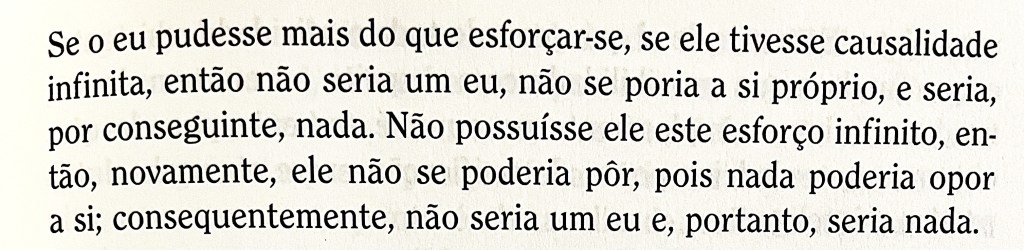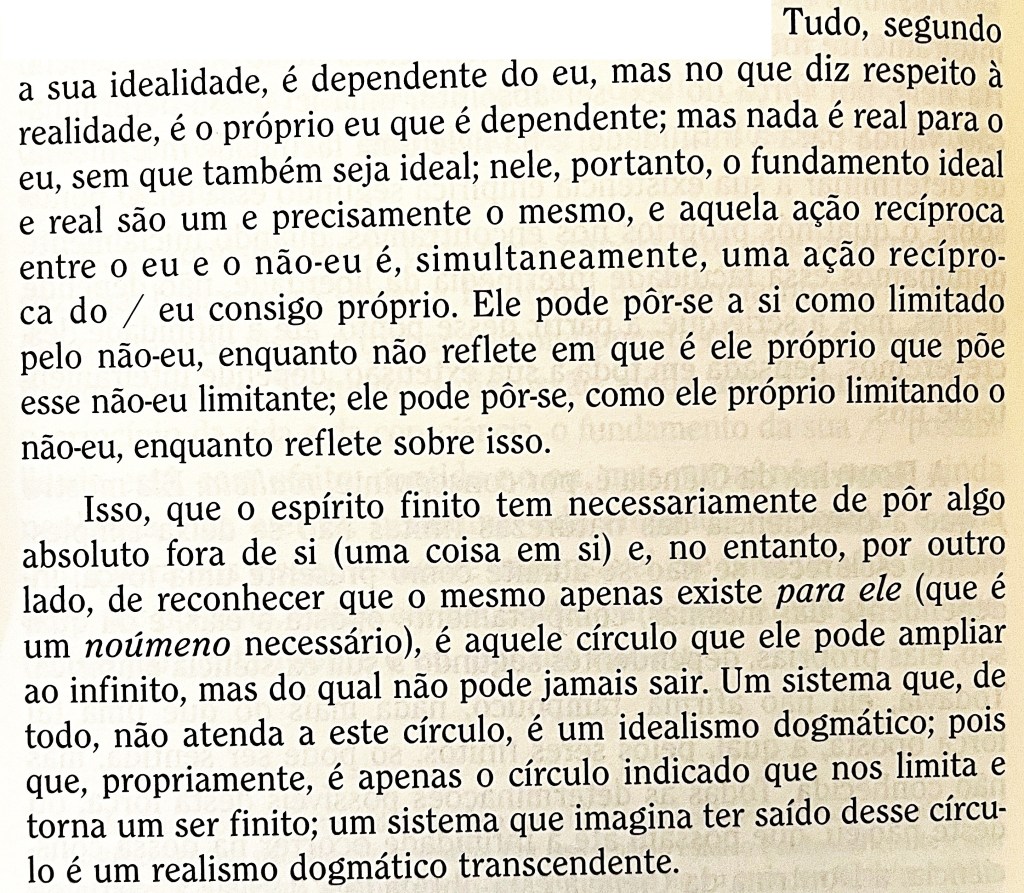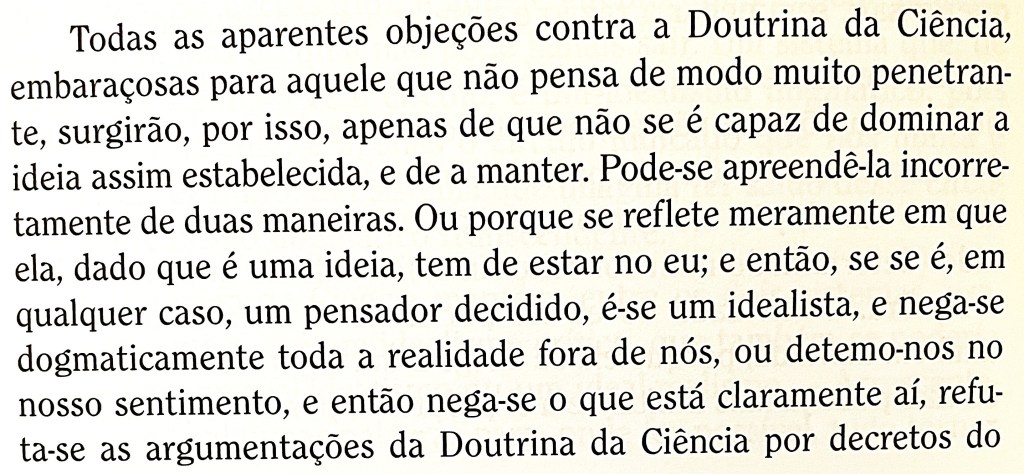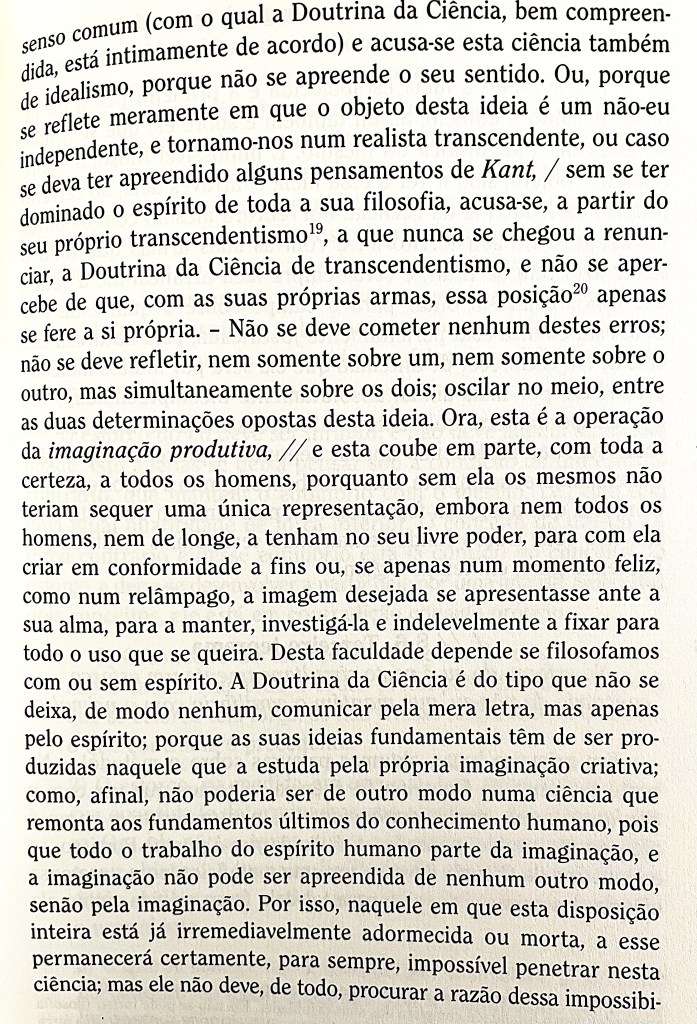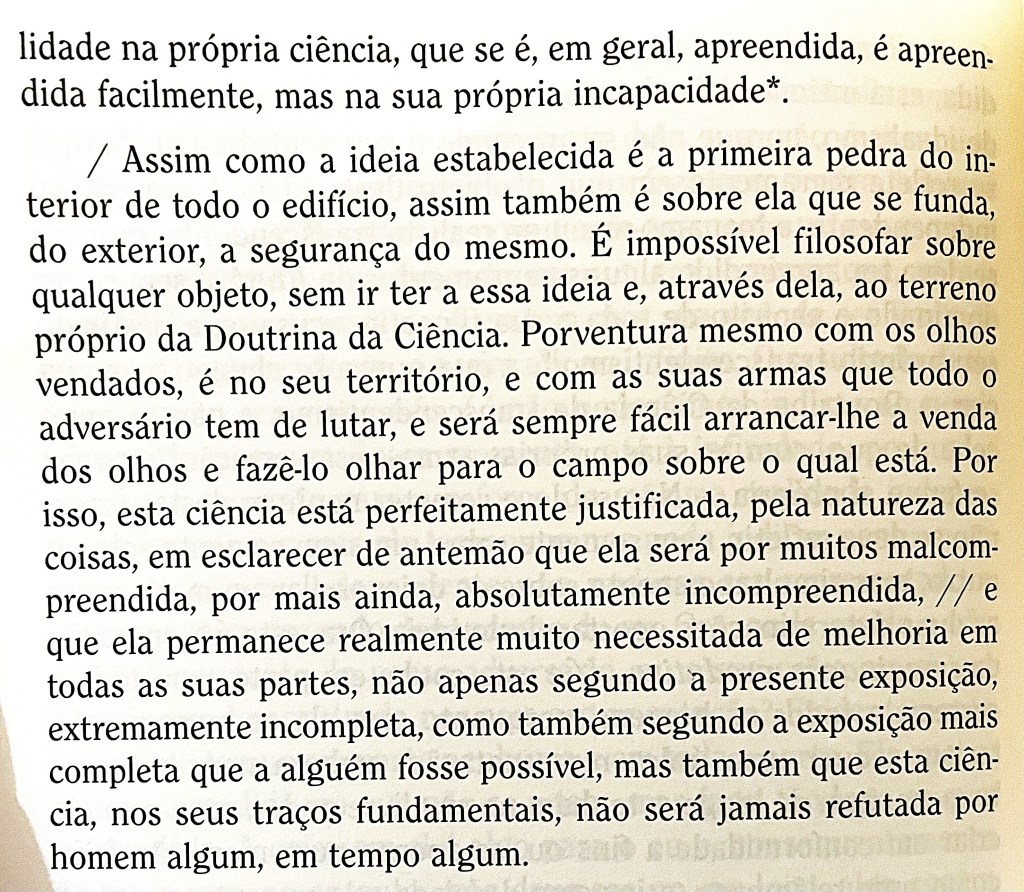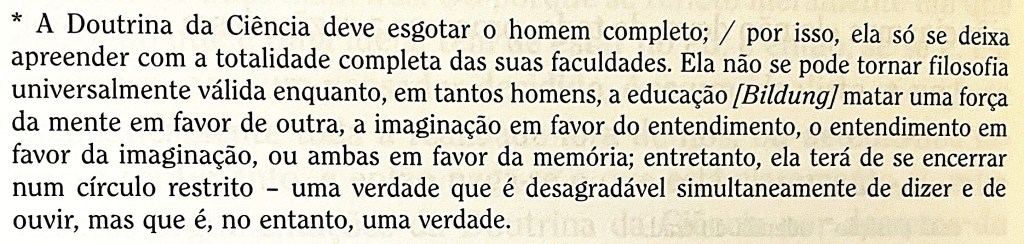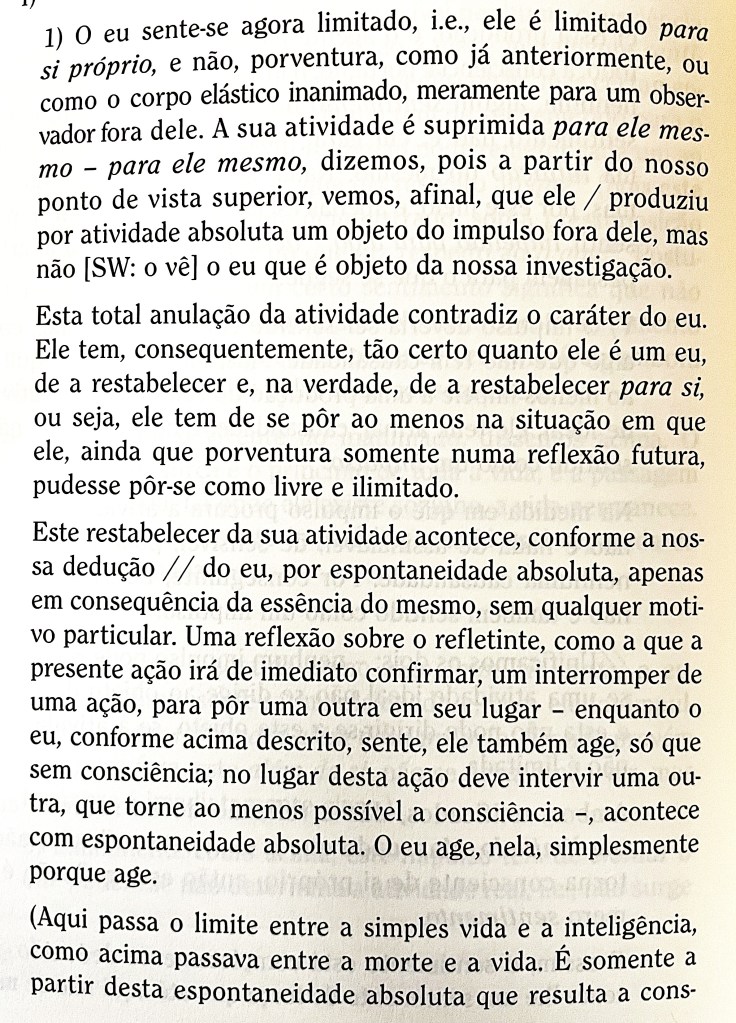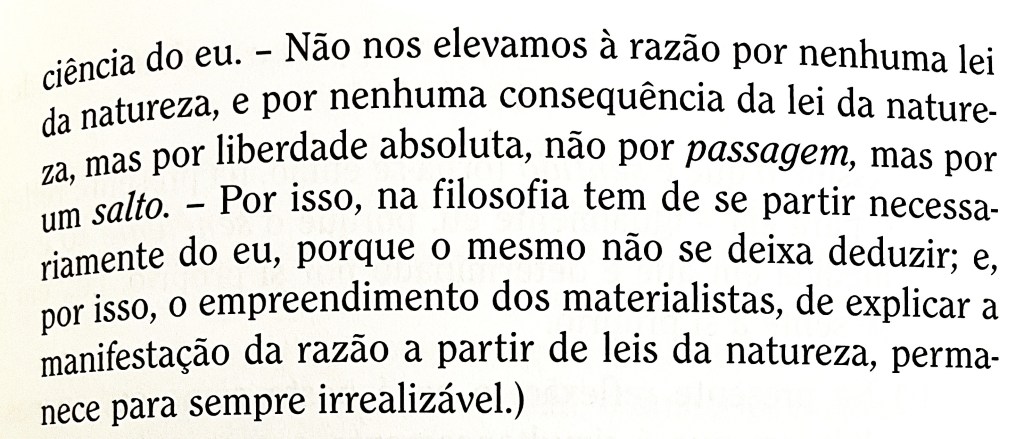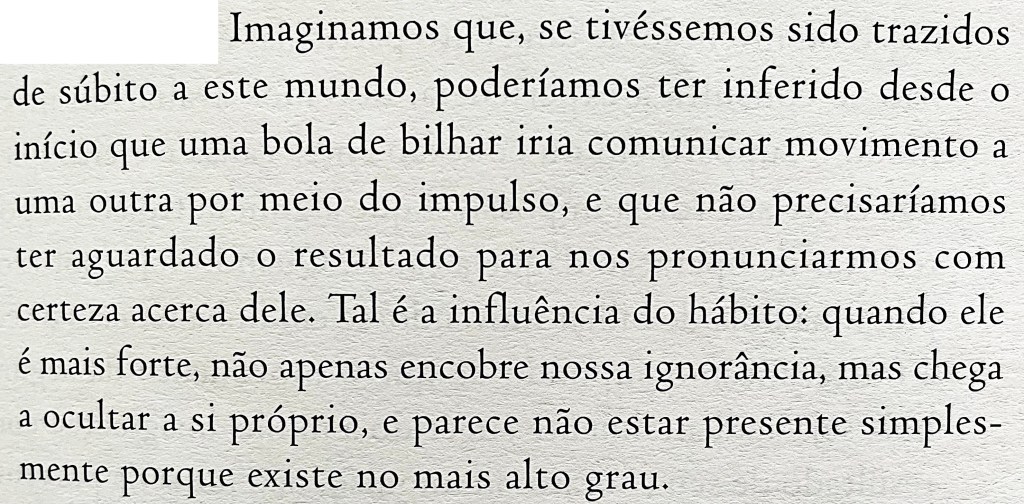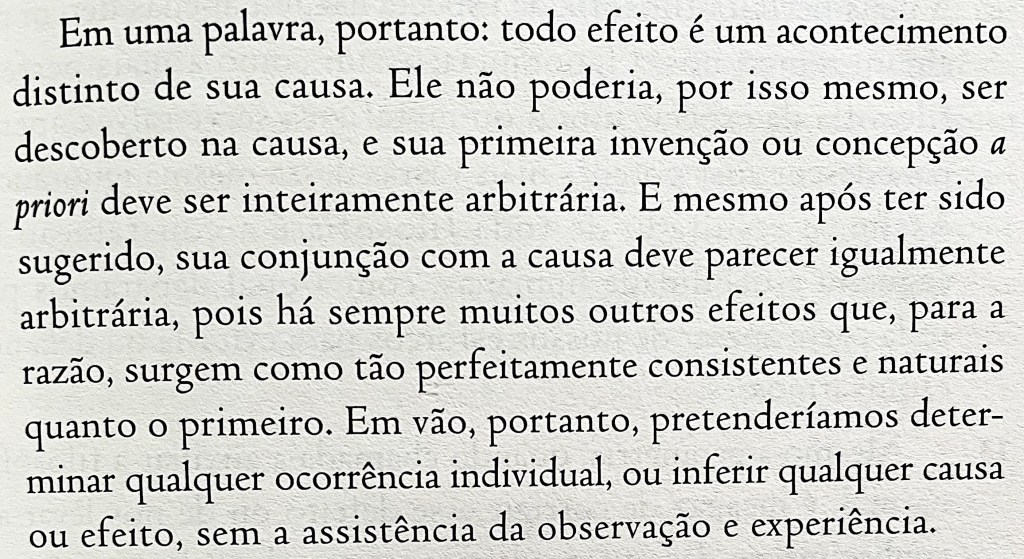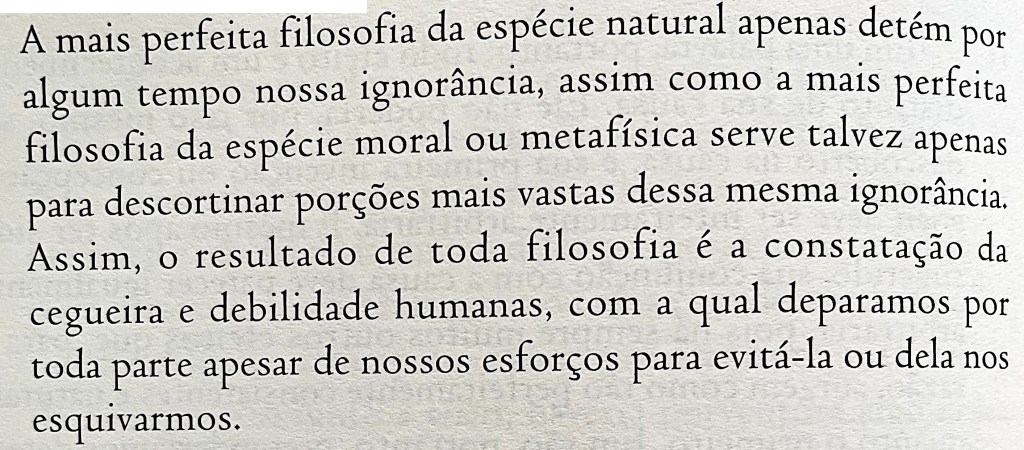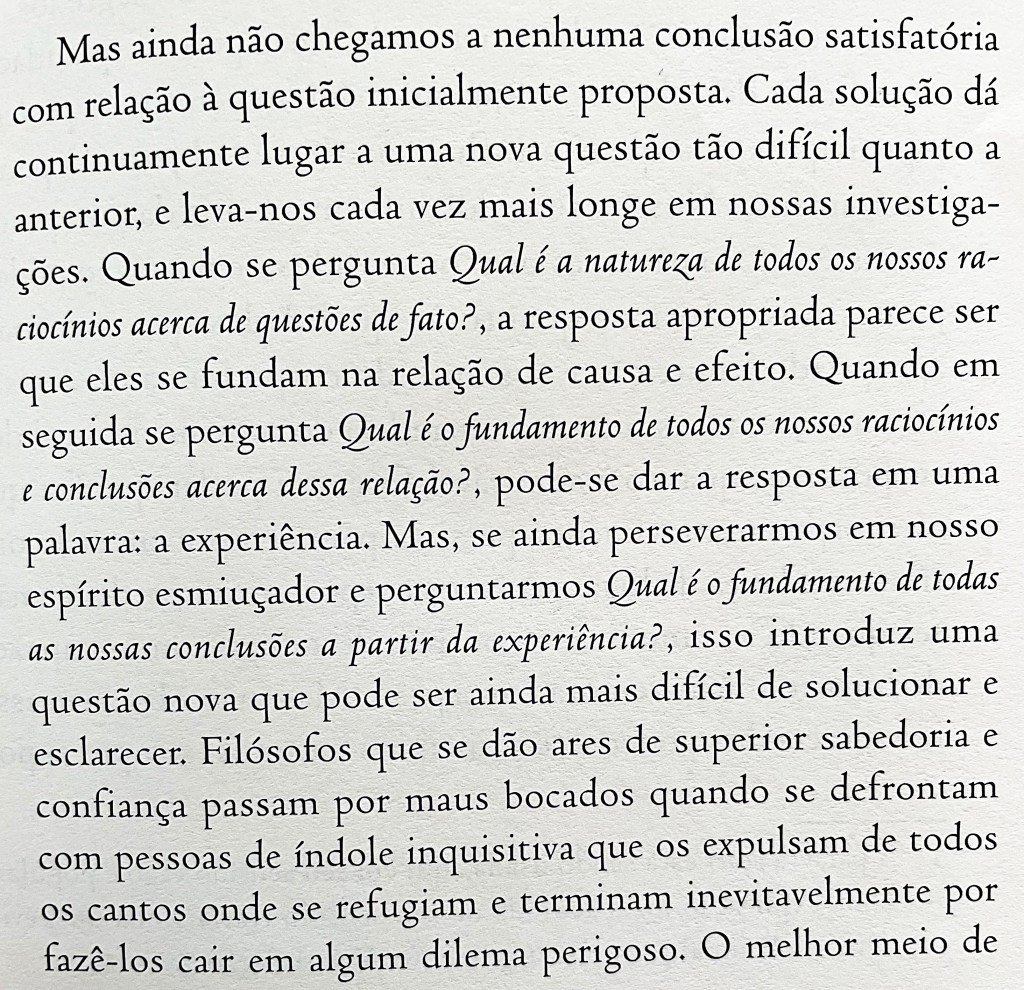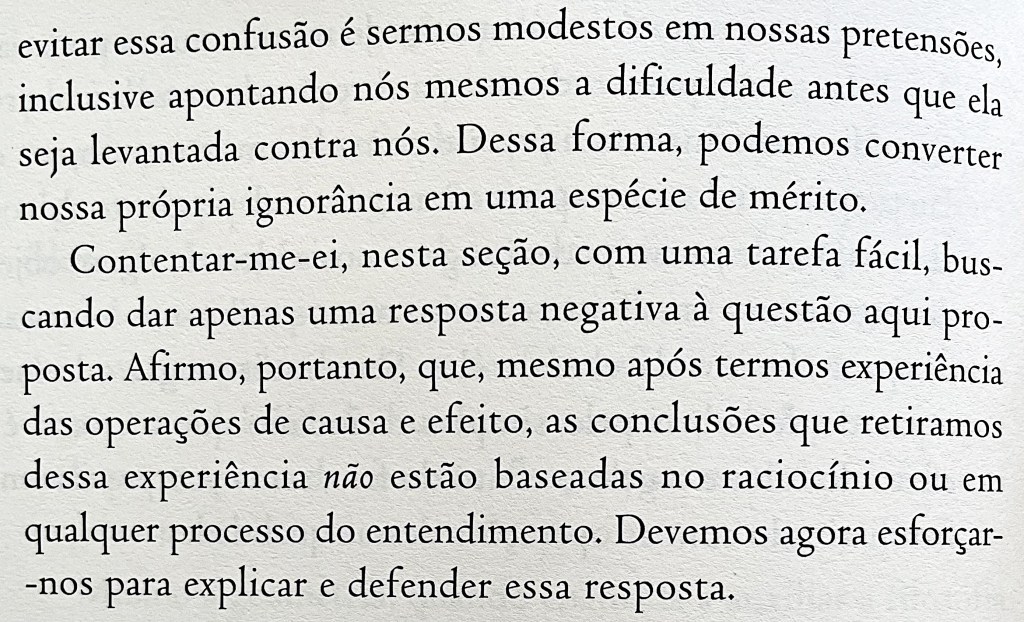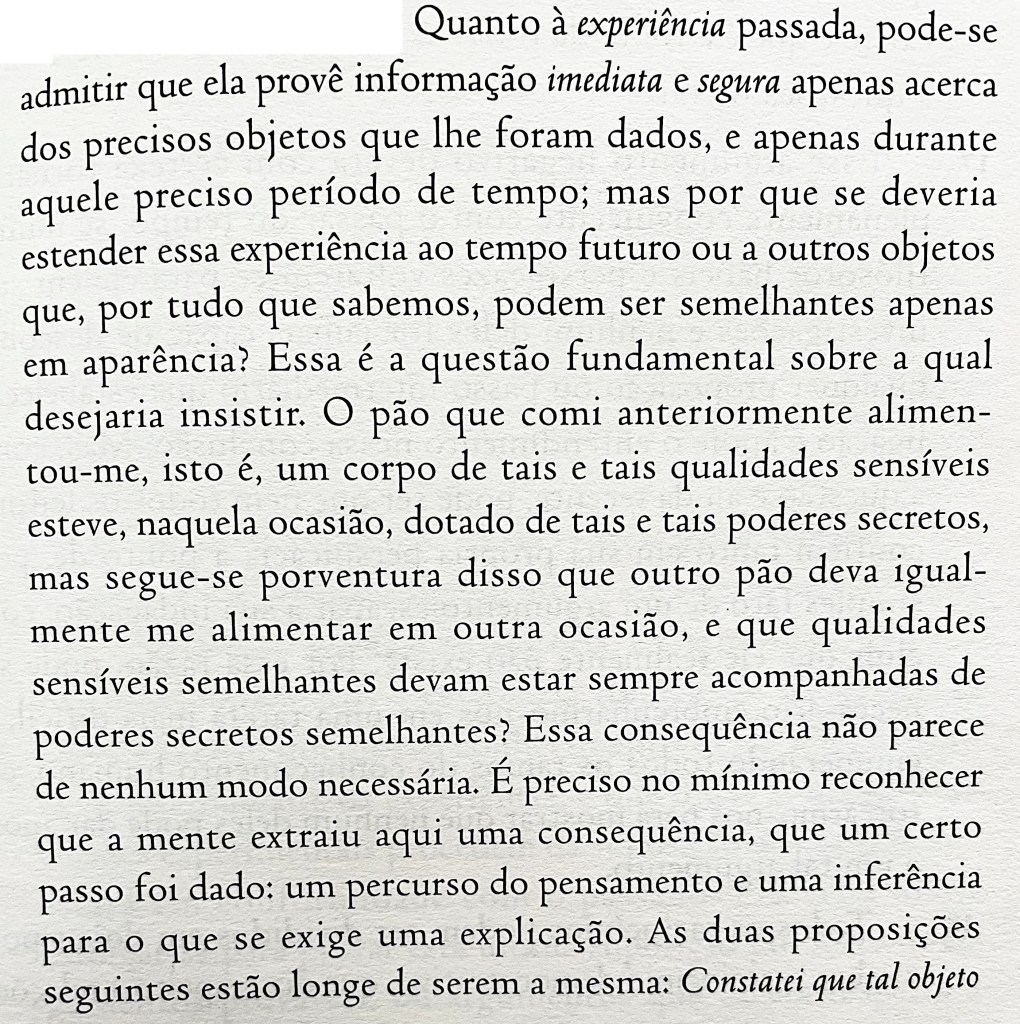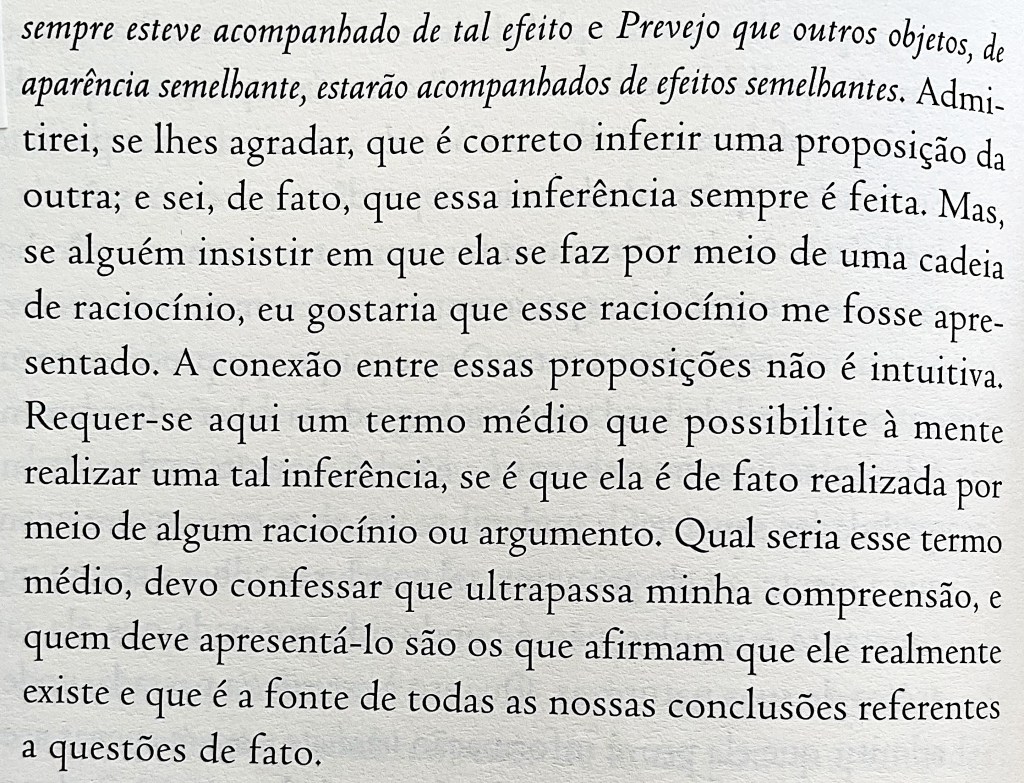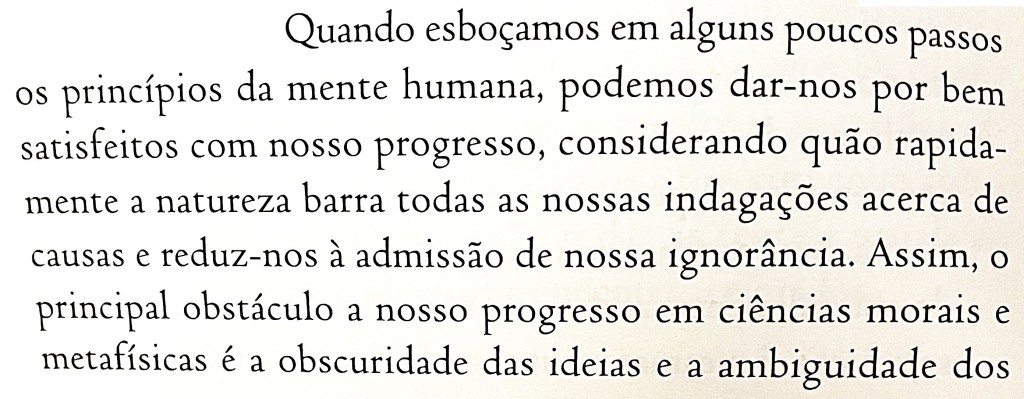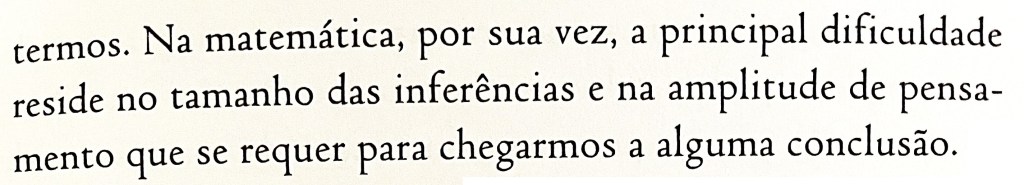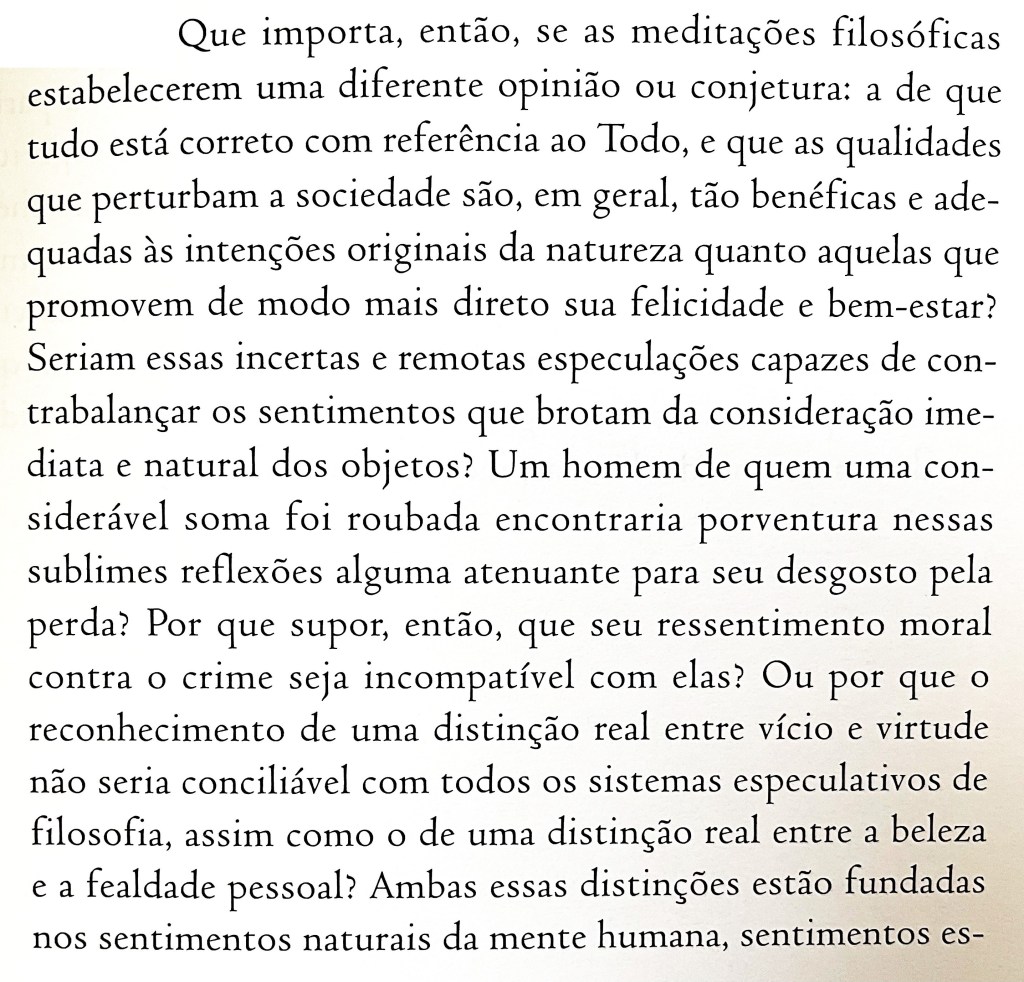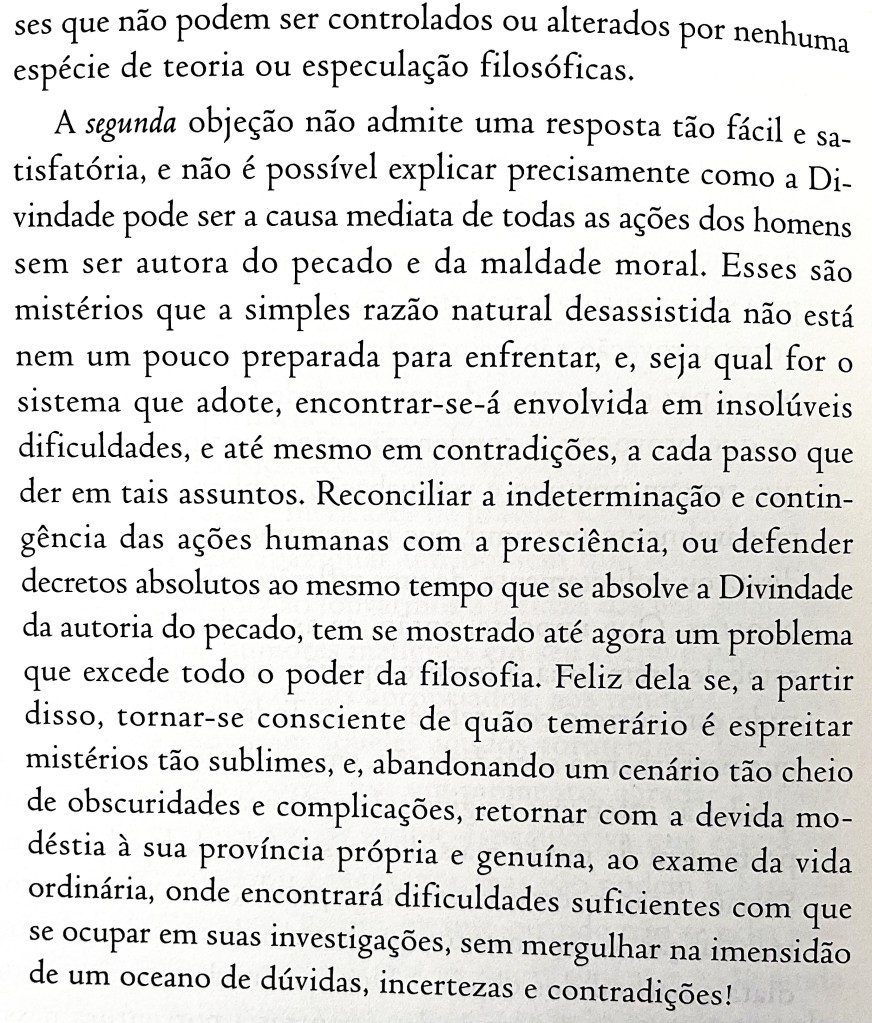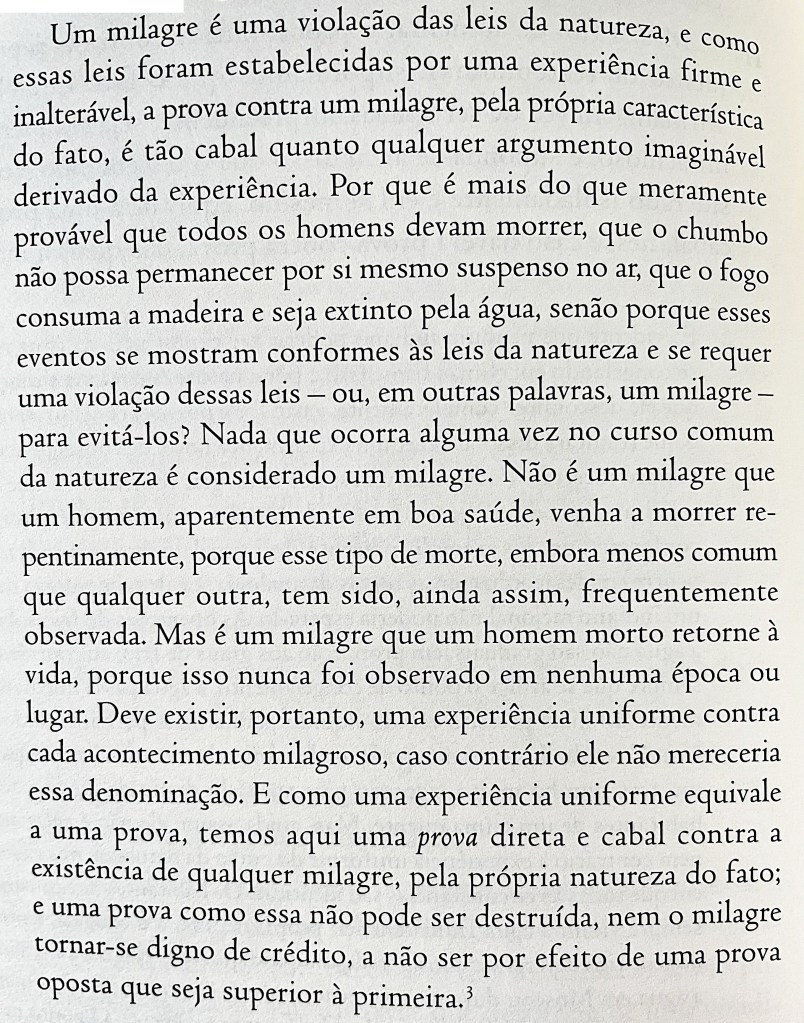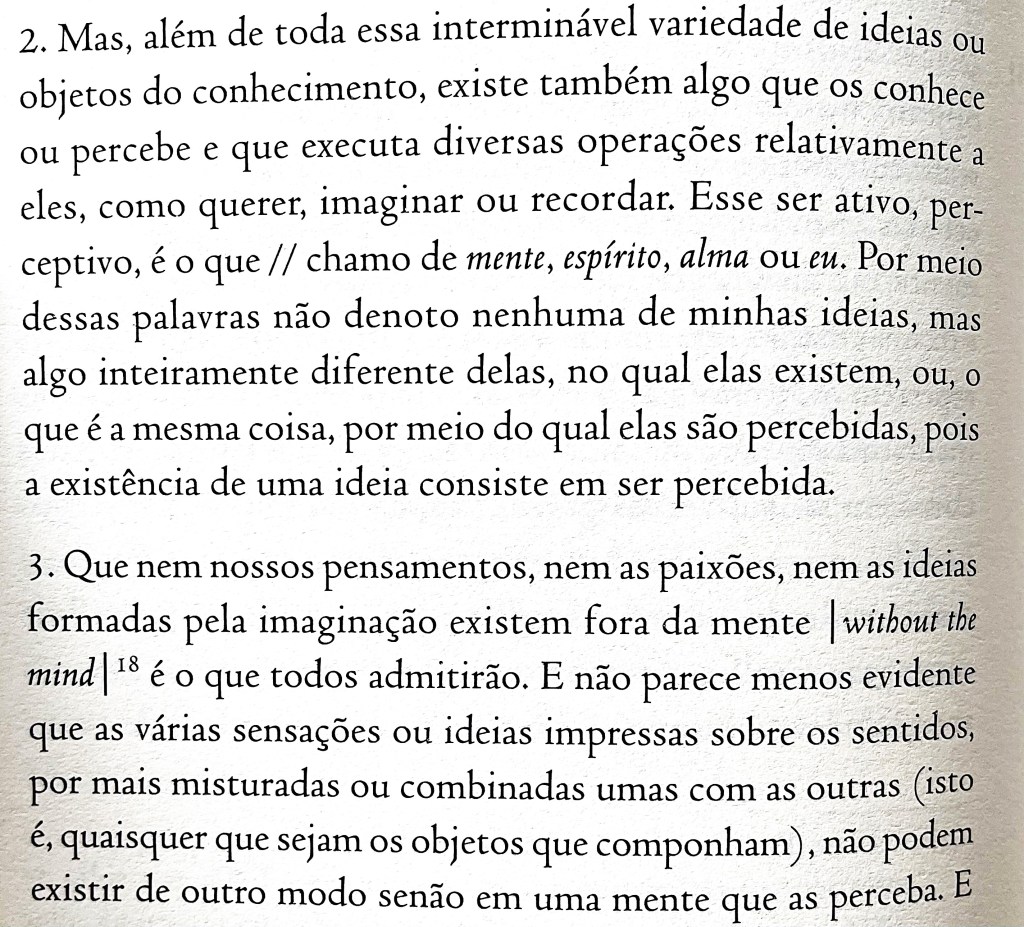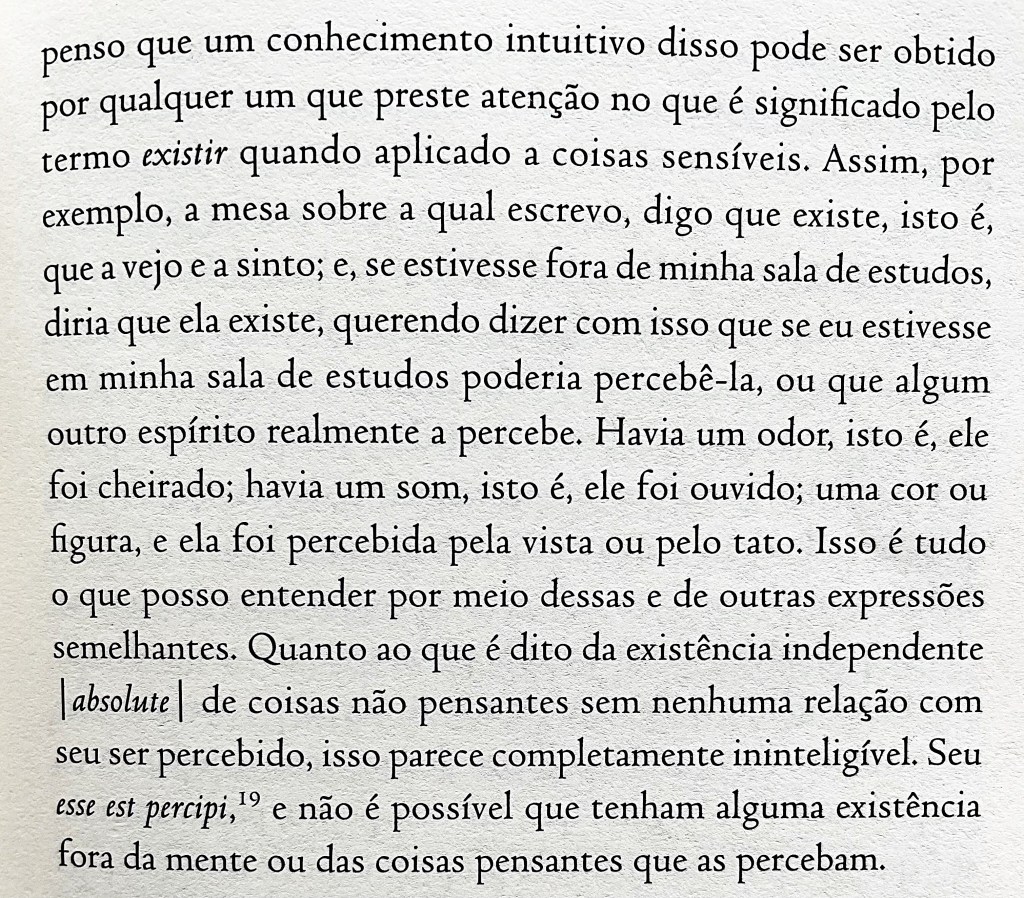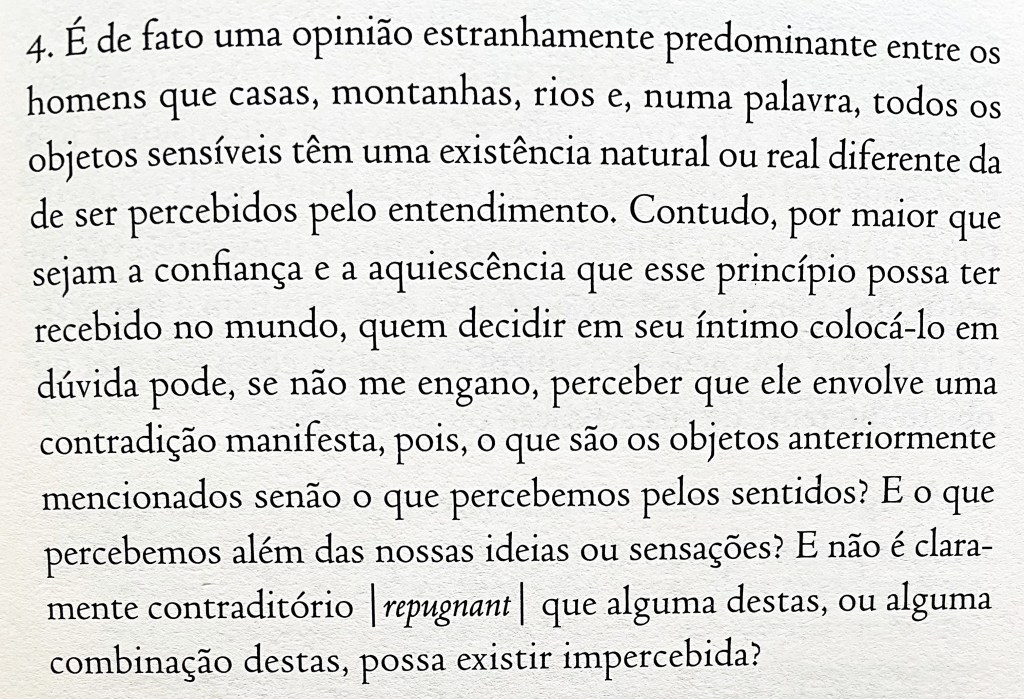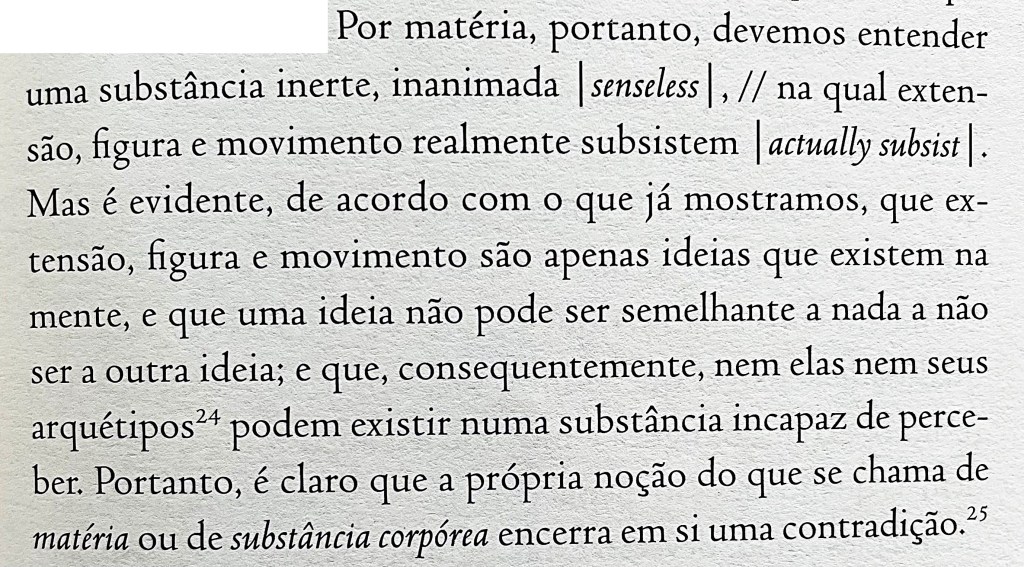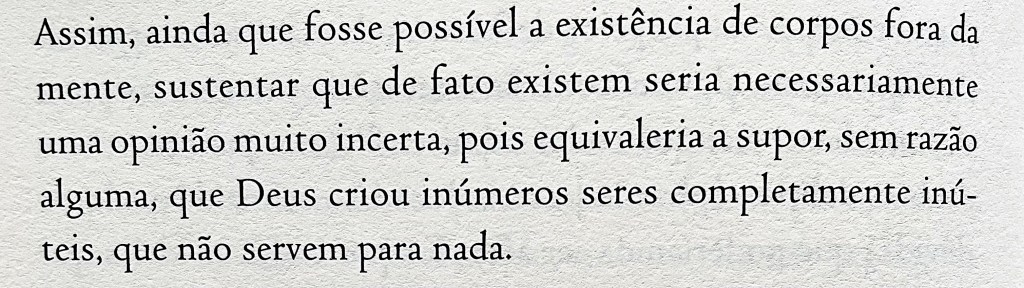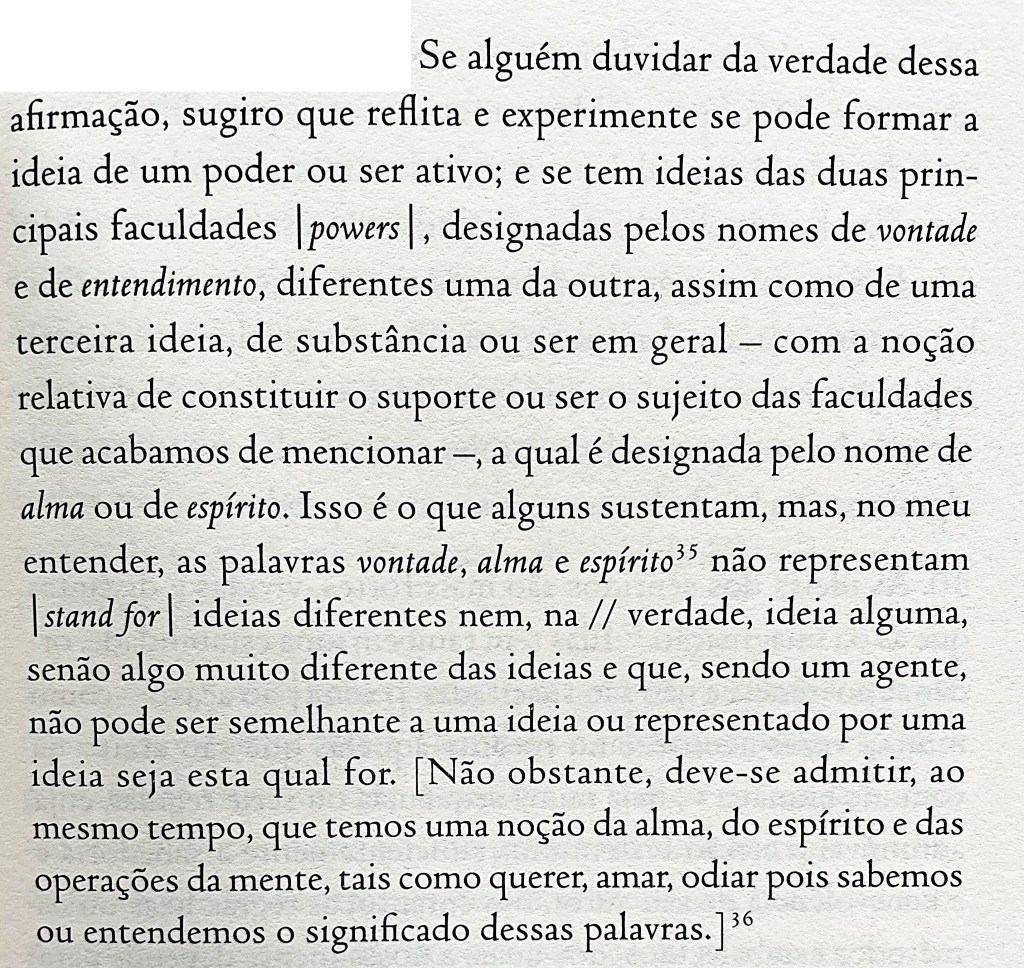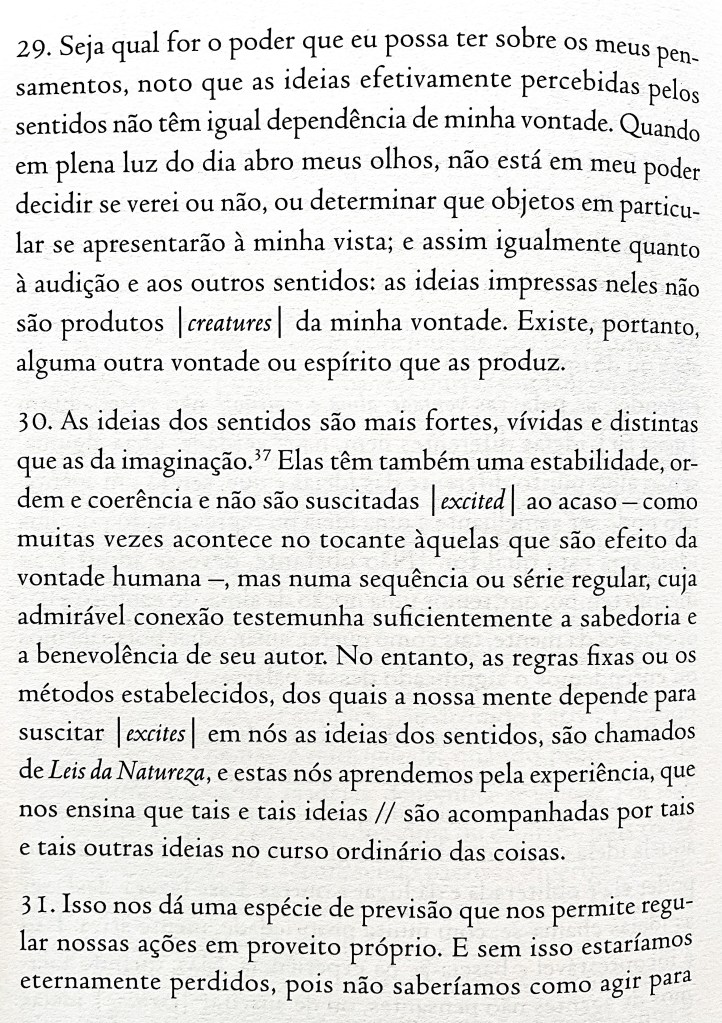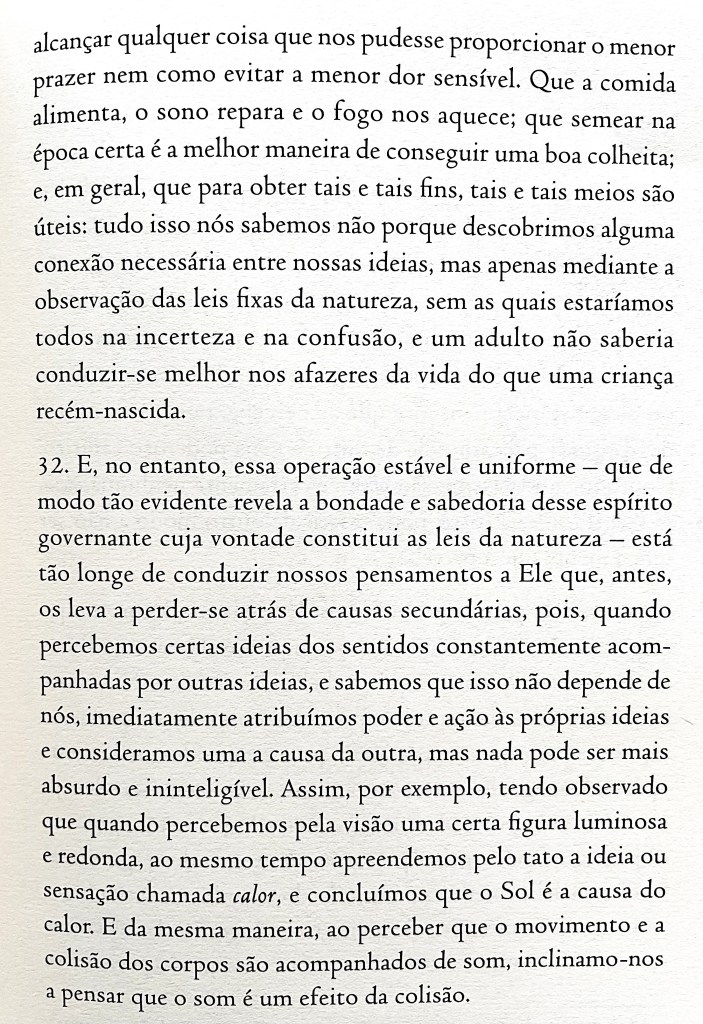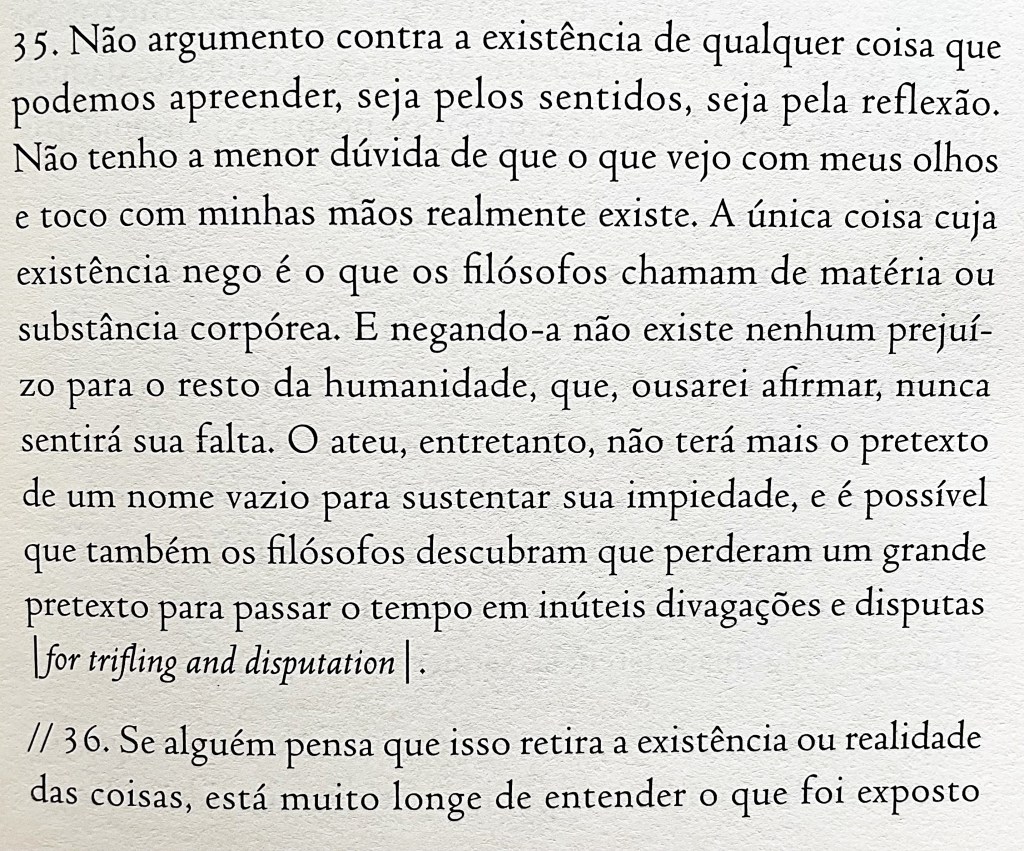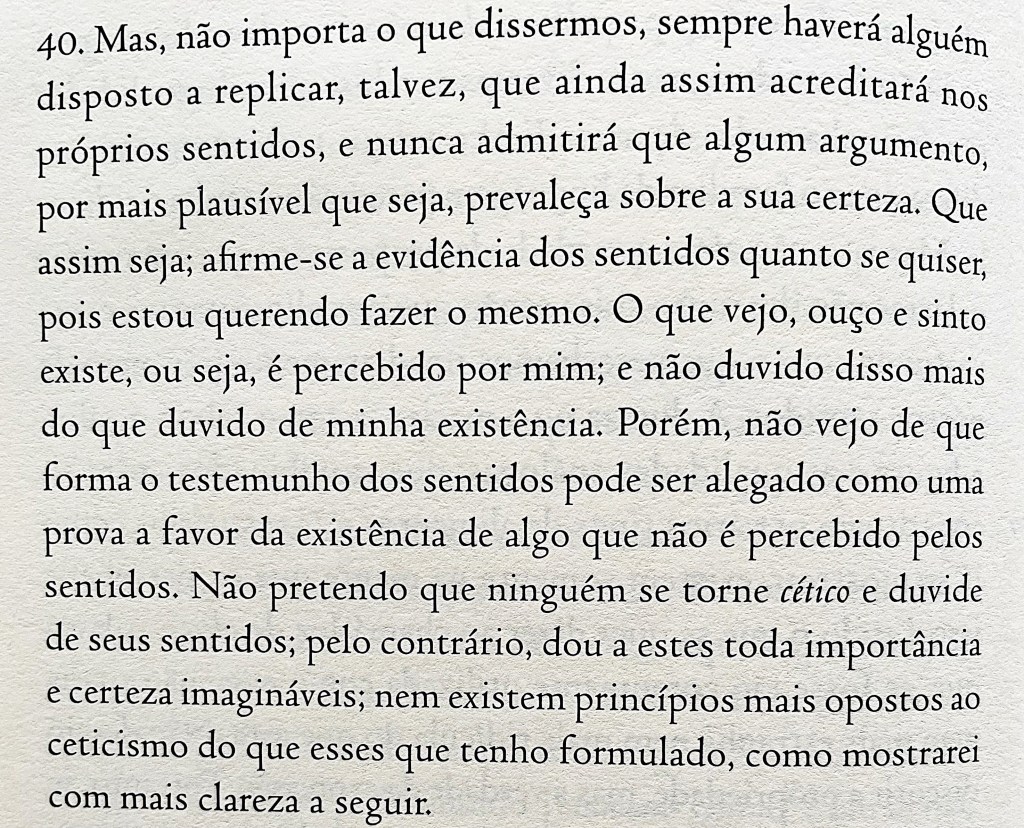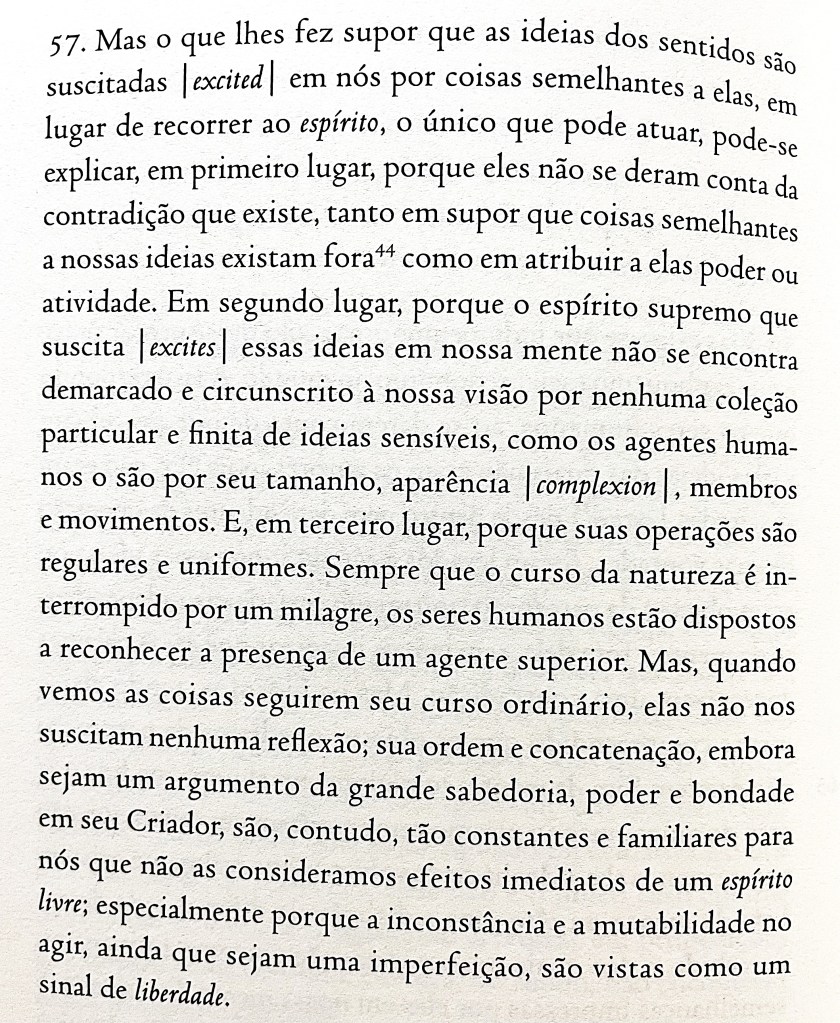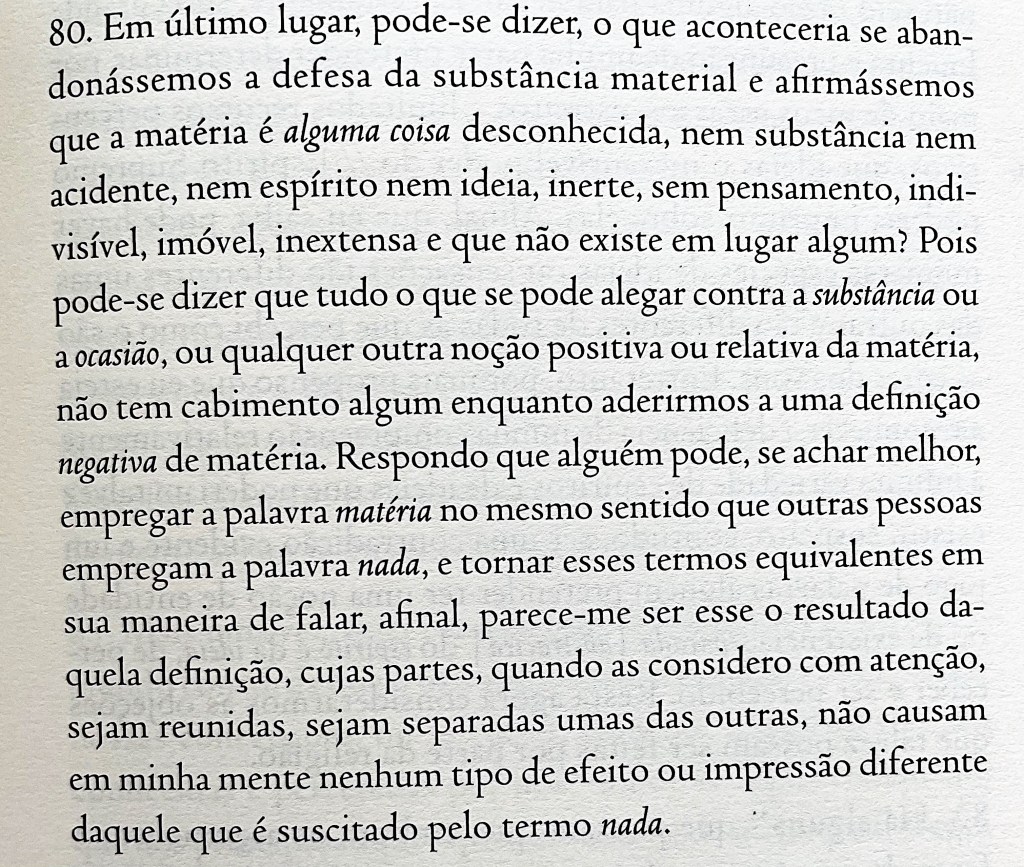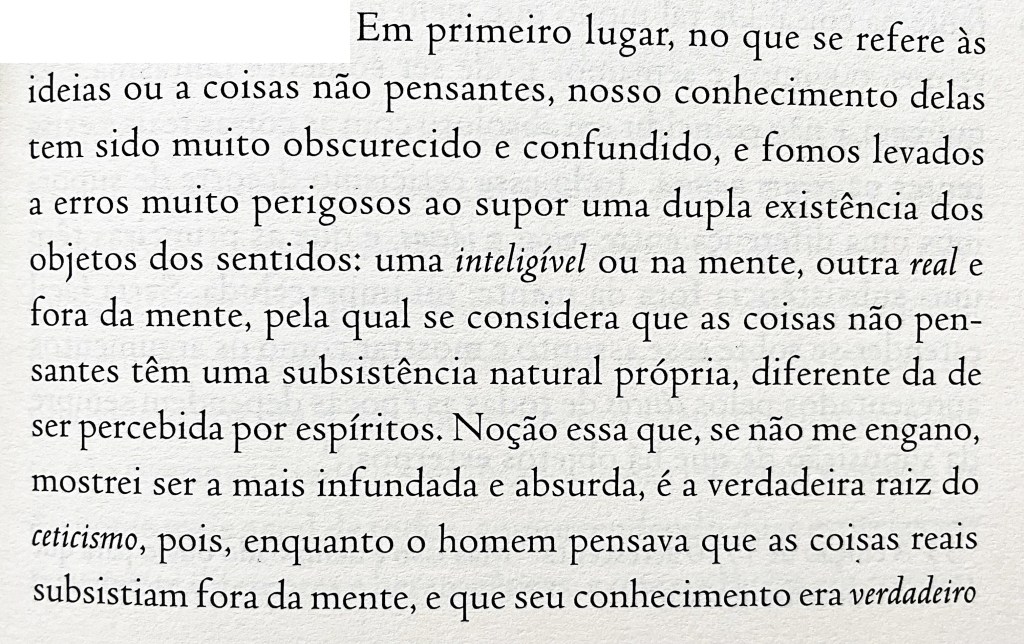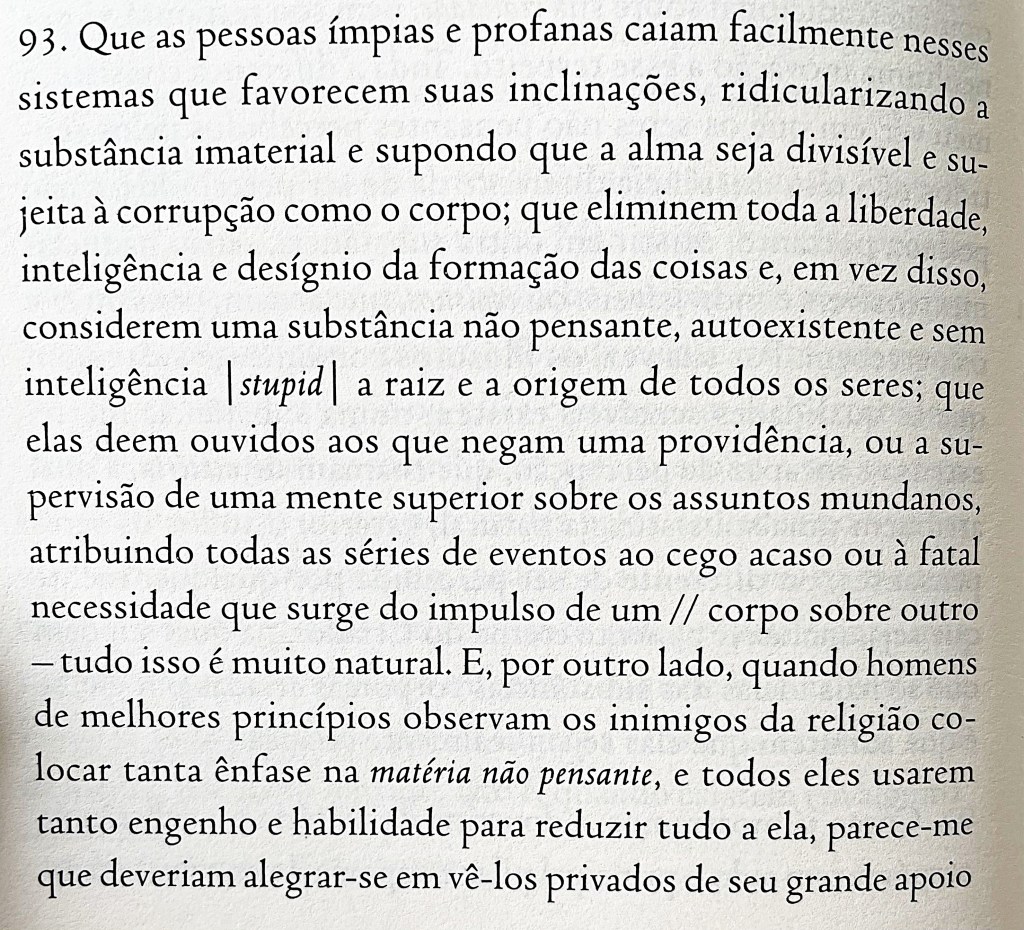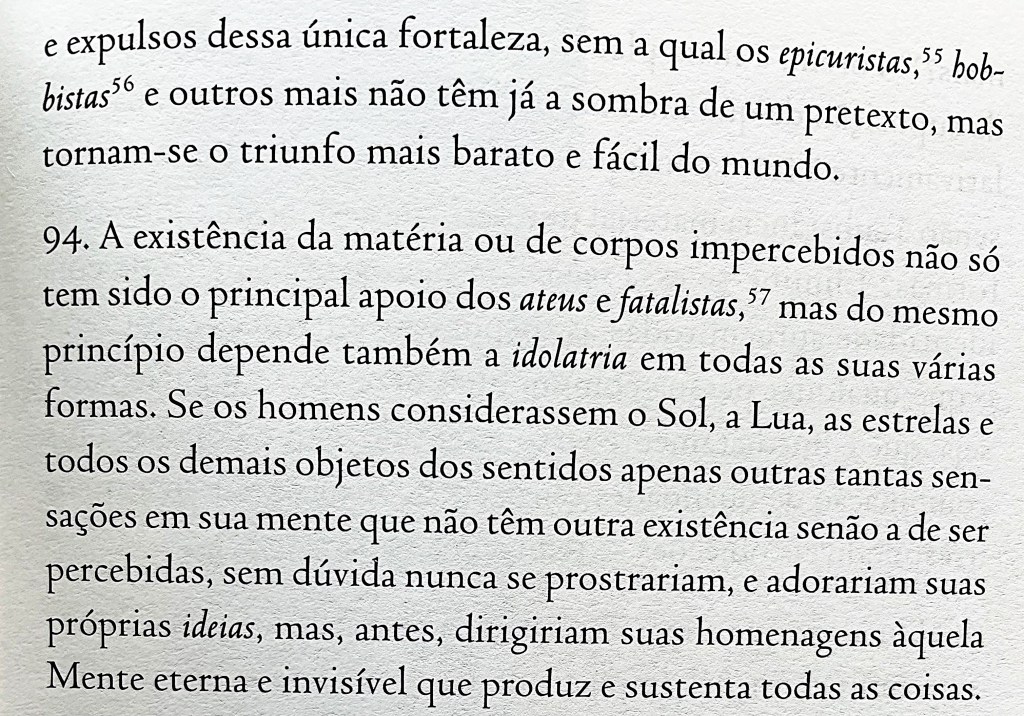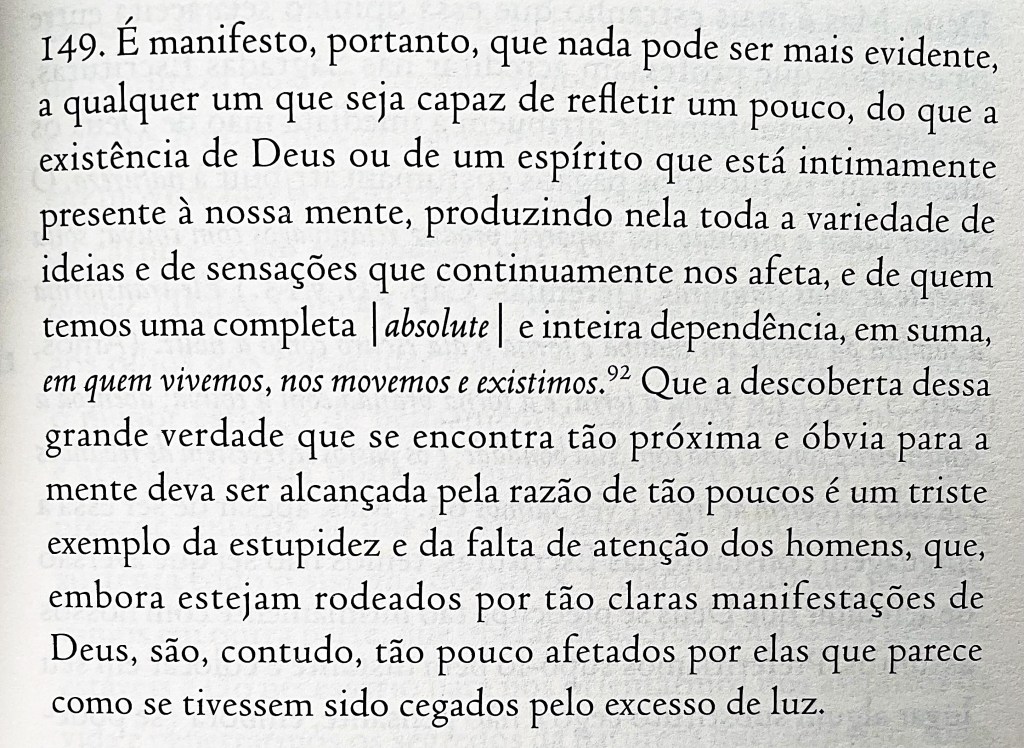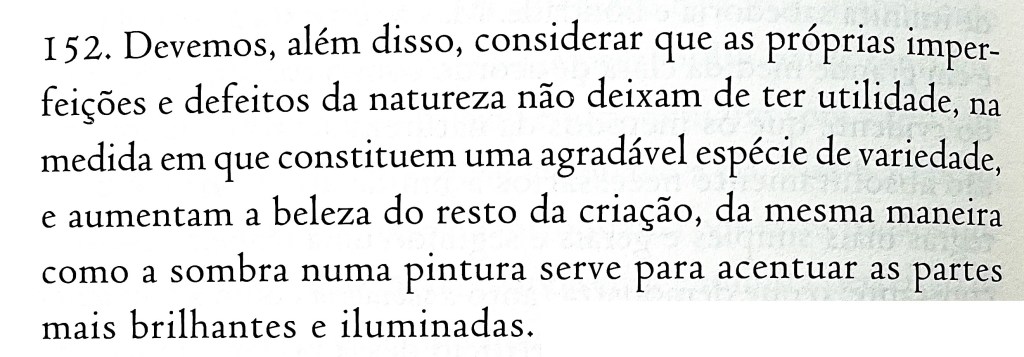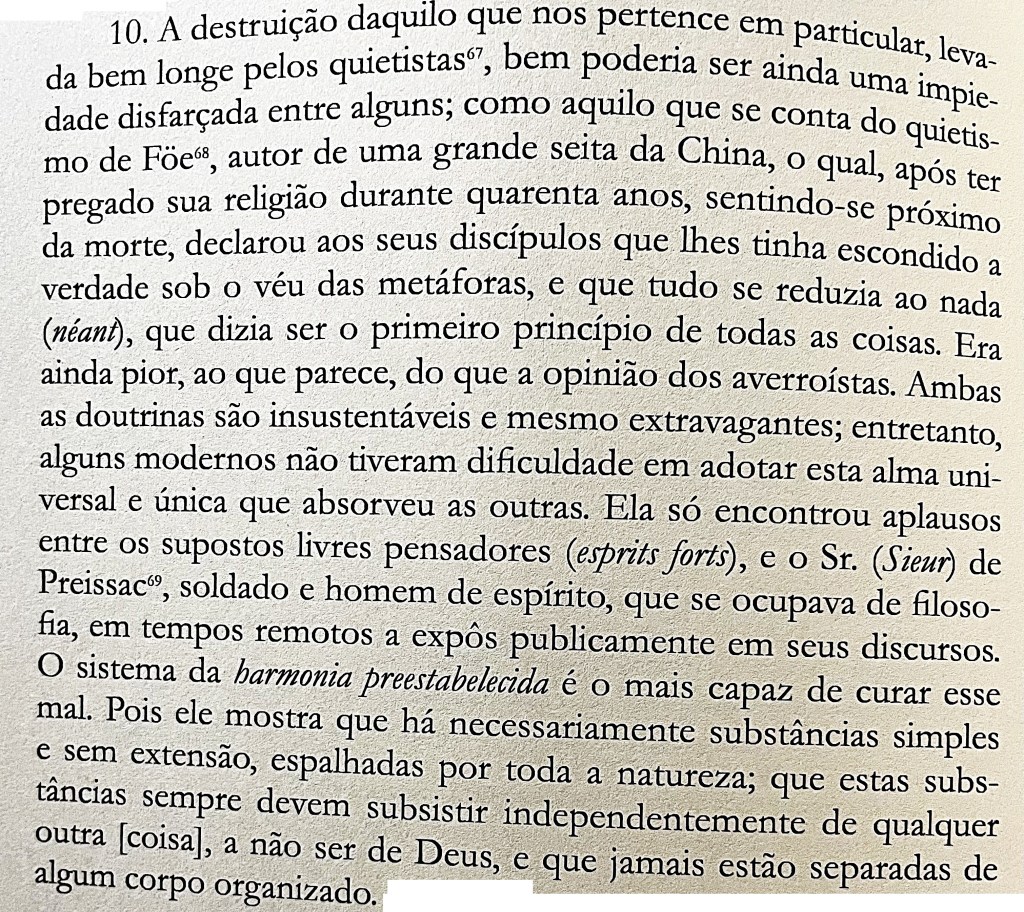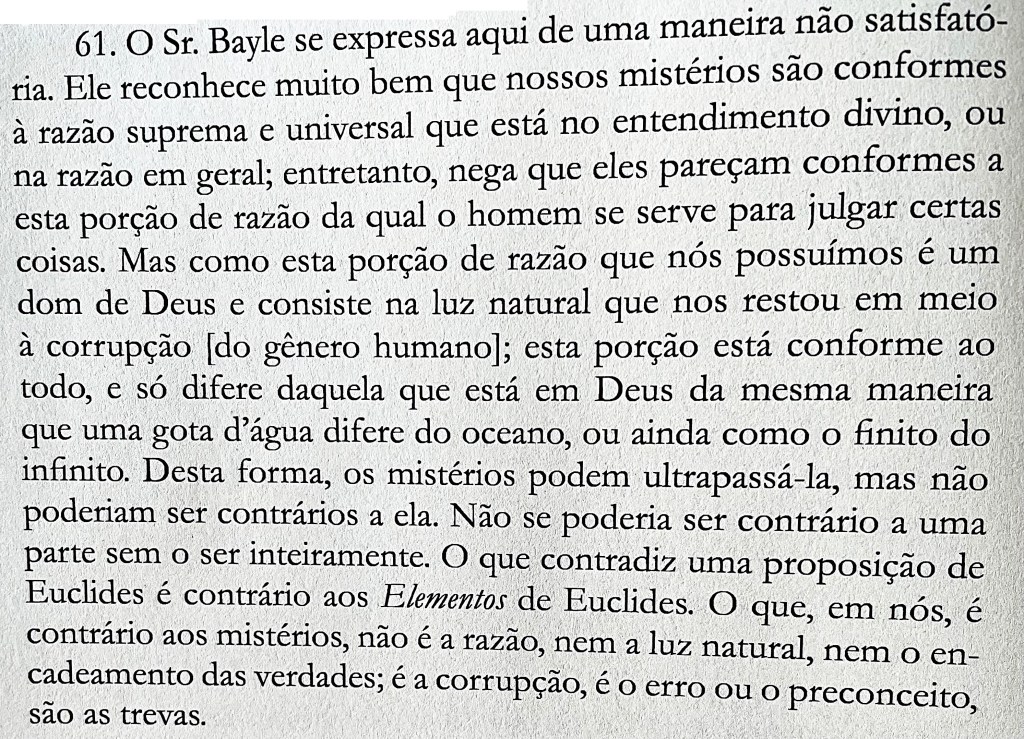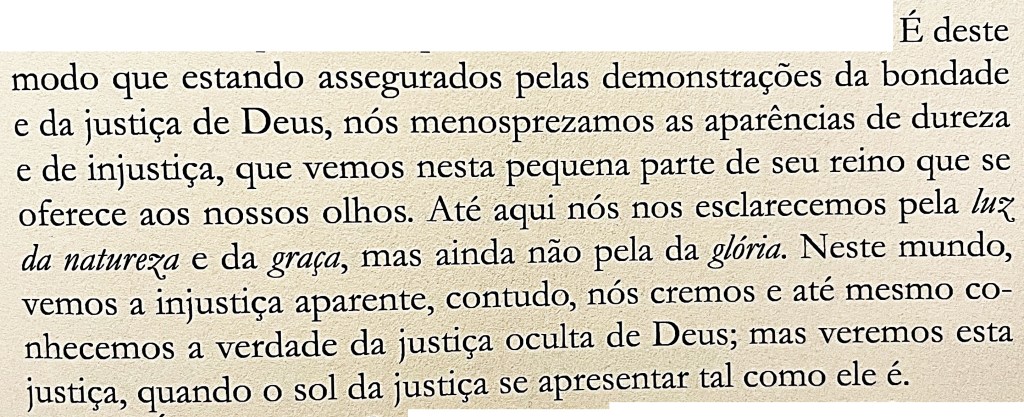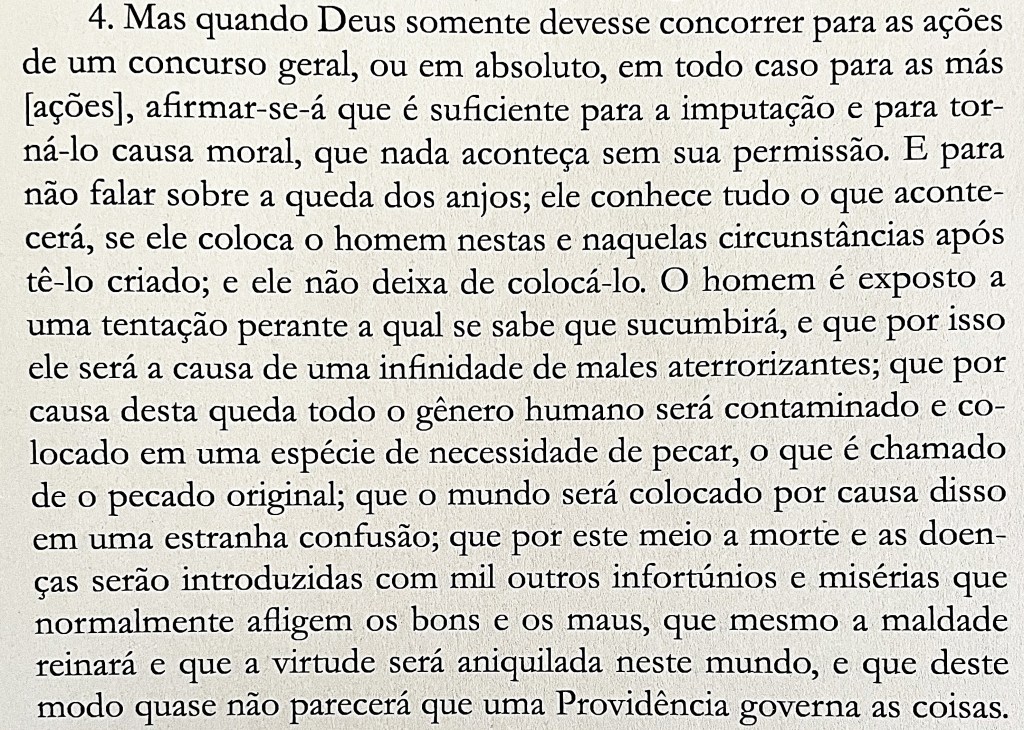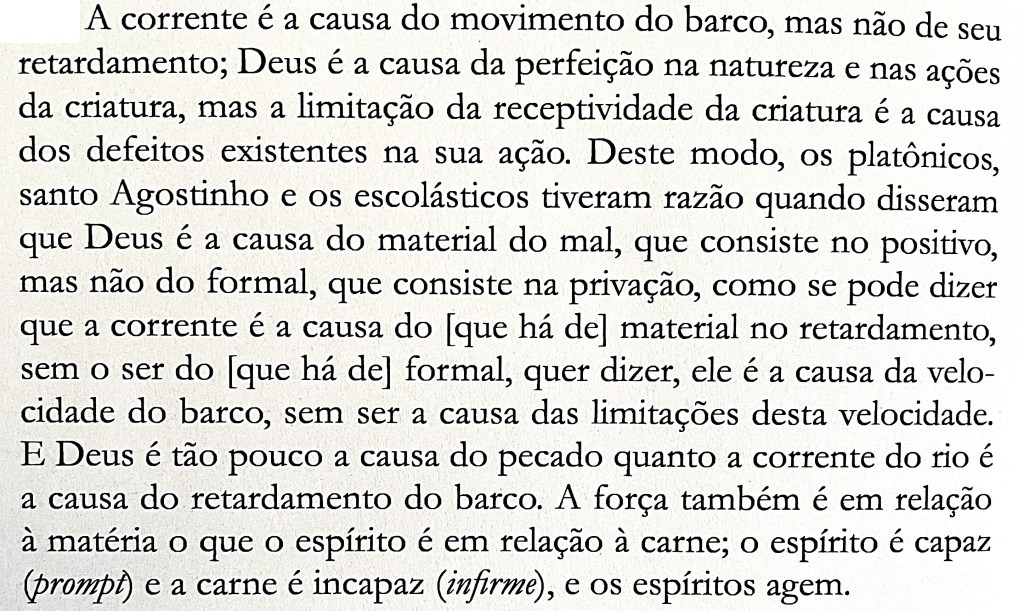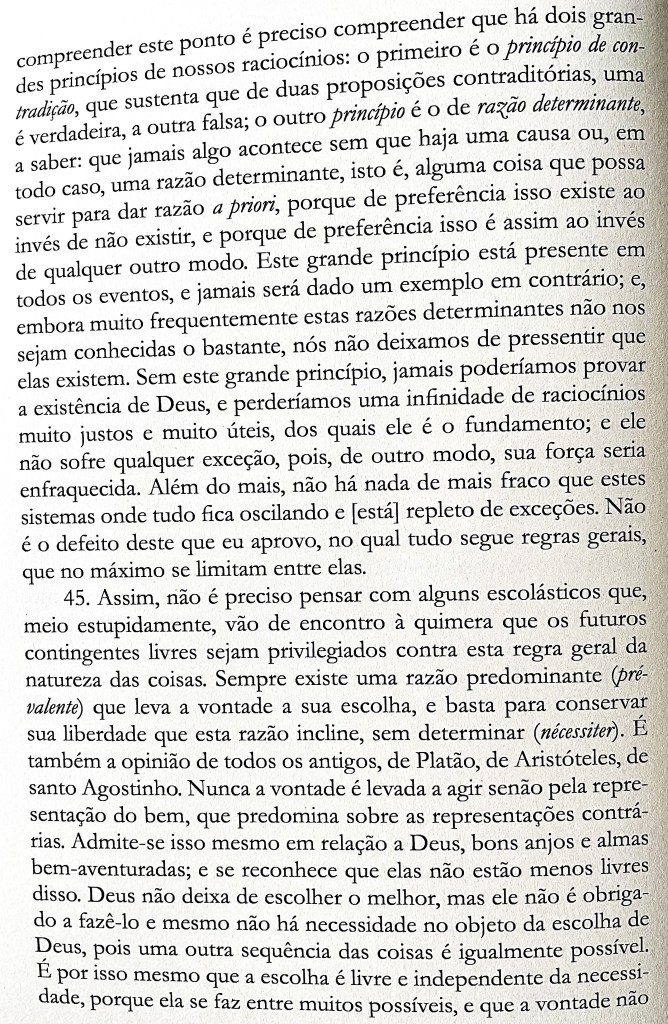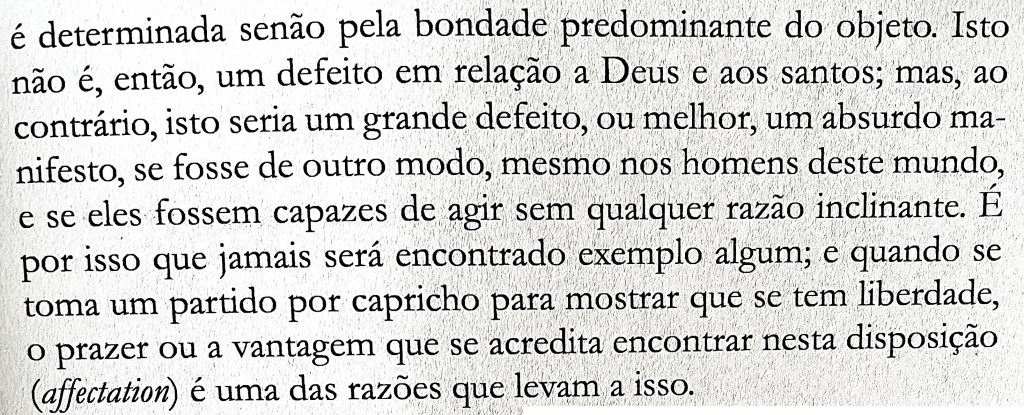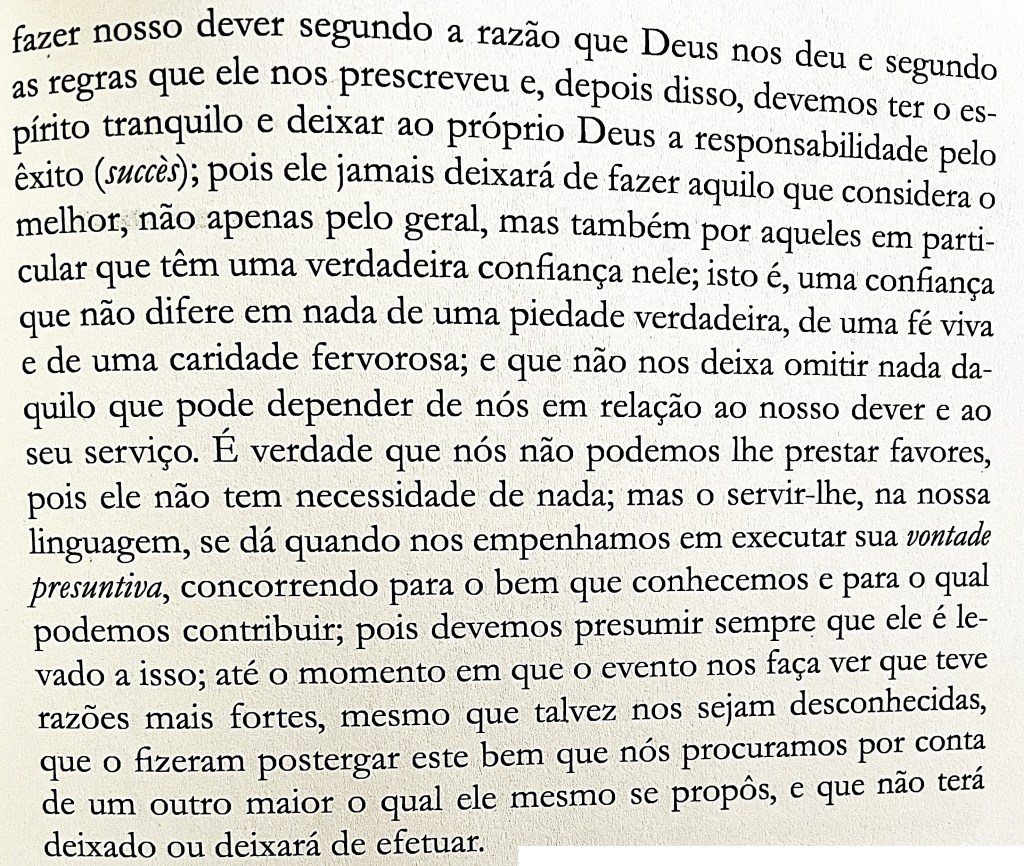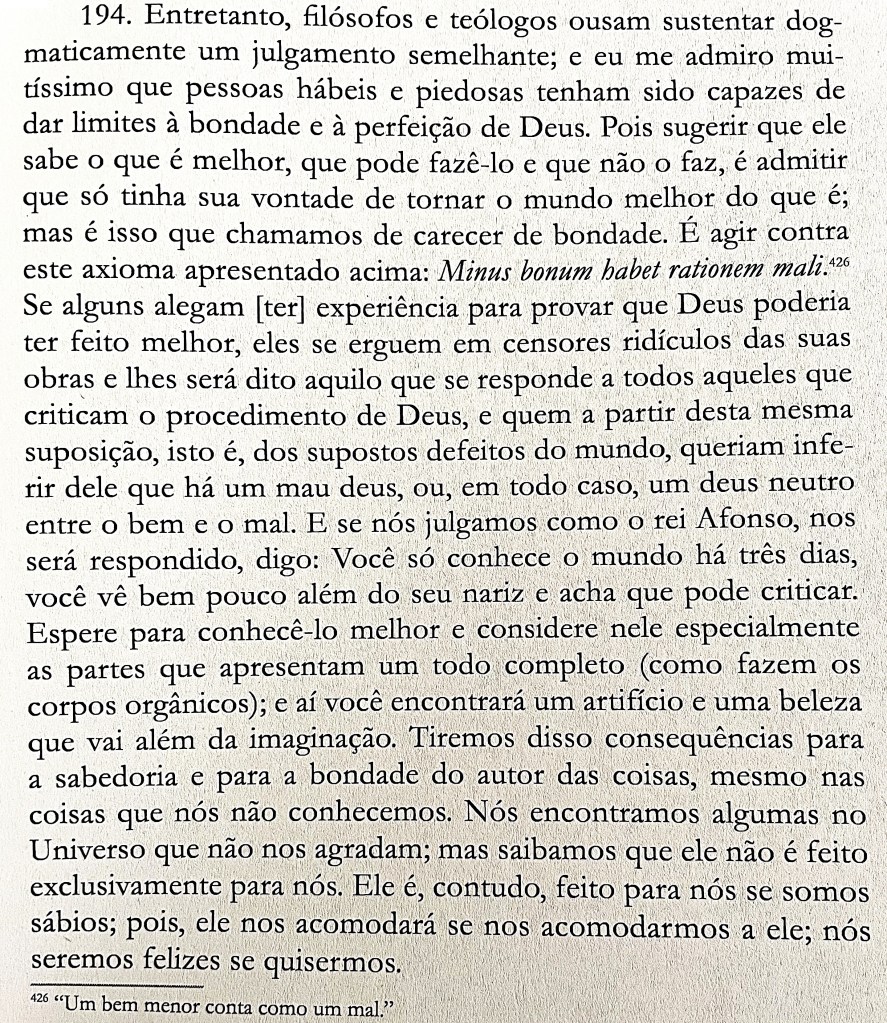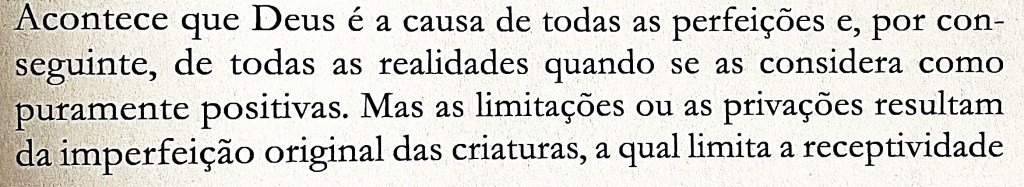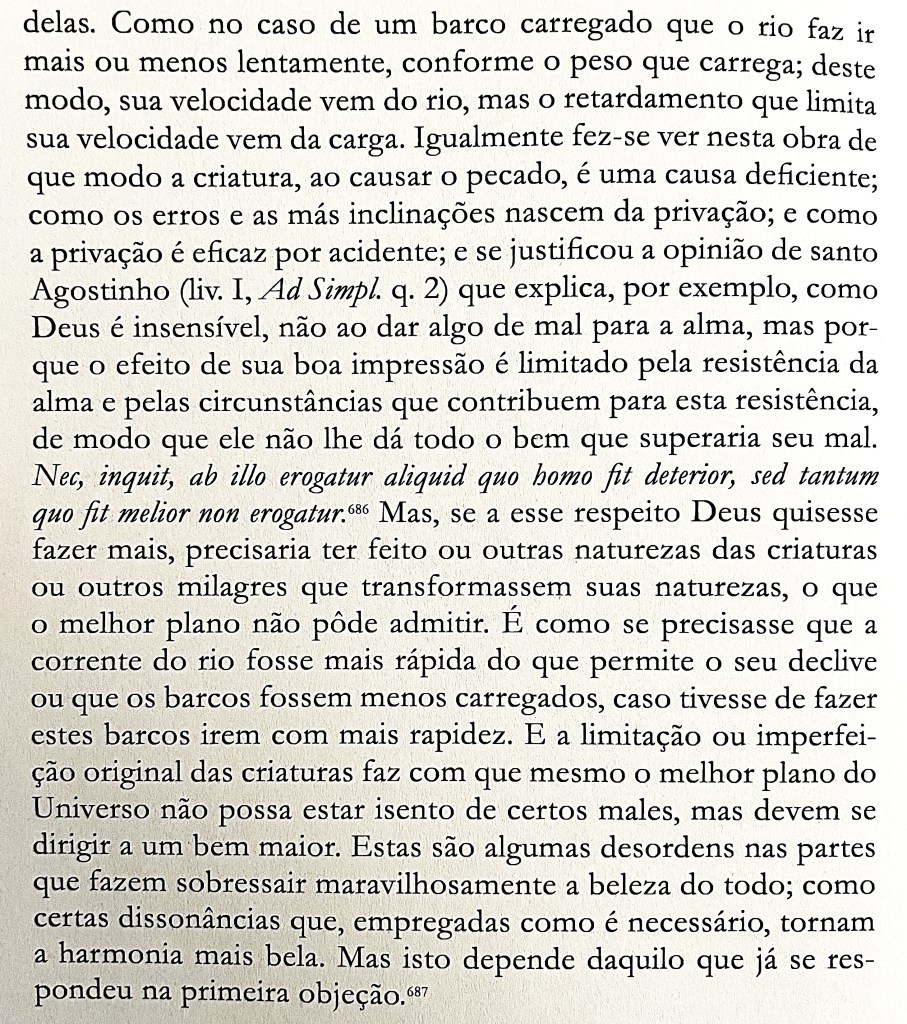O livro O Segredo, de Rhonda Byrne, insere-se no gênero da autoajuda contemporânea, mas reivindica para si um estatuto mais elevado: o de revelar uma lei universal fundamental, supostamente conhecida por sábios antigos, pensadores iluminados e figuras de exceção ao longo da história. Essa lei, denominada “Lei da Atração”, é apresentada como o princípio último que governa todos os eventos da vida humana, desde as circunstâncias materiais mais banais até os estados interiores de felicidade, saúde e realização. A tese central da obra é inequívoca: aquilo que o indivíduo pensa e sente determina, de maneira direta e necessária, aquilo que ele experimenta no mundo. A realidade, nesse sentido, não é algo que simplesmente acontece ao sujeito, mas algo que responde ao seu estado mental.
Não precisamos nos preocupar muito com a reivindicação do estatuto mais elevado de acordo com alguma antiguidade ou origem autoritativa, porque este é das falácias uma das mais fracas, o chamado “argumento de autoridade”. Uma lei universal deve ser reconhecível por sua própria constituição, por seus efeitos, por critérios adequados à sua suposta universalidade. Não é o sábio que faz a Sabedoria, mas a Sabedoria que faz o sábio. Então precisamos verificar a veracidade da tal Lei da Atração. Sobre a determinação da experiência de acordo com o pensamento e o sentimento, isso tem no mínimo uma dupla interpretação possível. Primeiro, a interpretação objetiva, de que a realidade exterior ao ser que a percebe sofre alterações por efeito dos estados interiores do sujeito. Segundo, a interpretação subjetiva, de que a percepção que o sujeito tem da realidade exterior é alterada por seus estados interiores. No primeiro sentido, por sua vez, há três interpretações possíveis: 1) o efeito indireto pelas consequências de ações que consideram uma determinada qualidade da realidade; 2) o efeito direto pela posse de um poder de alteração da realidade para além das ações ordinárias; e 3) o efeito direto pela produção de uma realidade que reflete o interior da alma, embora este efeito dependa do uso de liberdades específicas, que podem ser mais ou menos restritas conforme o caso. Posso aceitar a primeira e a última interpretação, ou seja, que a nossa maneira de pensar e sentir a realidade muda a nossa forma de agir no mundo e, portanto, gera consequências derivadas dessa visão interior, e também que temos o poder da reflexividade monádica de criar a nossa realidade, embora experimentemos isso hoje de modo limitado por força do ordenamento da Mútua Representação. No segundo sentido, de fato a realidade é representada pela alma que a percebe de acordo com as categorias que a alma usa para interpretar essa representação, e a escolha é livre para alterar esses critérios, sem no entanto gerar com isso a modificação da realidade exterior, exceto pelos casos primeiro e terceiro do primeiro sentido. Reconheço, portanto quatro formas de interpretar a tese da Lei da Atração: modificação por ações ordinárias, modificação por ações extraordinárias, geração do real por uma atividade interior limitada, e interpretação subjetiva das representações. Vejamos onde a Sra. Byrne vai nos levar.
Segundo Byrne, os pensamentos não são meras representações subjetivas ou conteúdos internos da consciência, mas forças energéticas dotadas de frequência vibratória. Essas frequências, por sua vez, interagem com o universo como um todo, atraindo eventos, pessoas e situações que se harmonizam com o padrão mental do indivíduo. Pensamentos positivos, acompanhados de emoções elevadas, atrairiam experiências igualmente positivas; pensamentos negativos, marcados por medo, escassez ou ressentimento, atrairiam circunstâncias adversas. A vida, portanto, funcionaria como um espelho fiel da vida interior, devolvendo ao sujeito aquilo que ele emana, consciente ou inconscientemente.
Como podem ser interpretadas as forças energéticas dotadas de frequência vibratória? Em primeiro lugar, o nome não faz a coisa, mas a coisa é que faz o nome: se há uma força, uma energia, ou uma vibração, até este ponto isto só é reconhecível pela causa psíquica e pelo efeito de alteração da realidade, mas permanece um mistério na sua quididade. O que é essa força? Em segundo lugar, já podemos enquadrar a Lei da Atração numa das quatro interpretações? Ainda não, pois essas forças poderiam produzir ações ordinárias ou extraordinárias que por sua vez poderiam atrair a realidade correspondente de modo menos ou mais direto. Isso porque não está declarada a essência do mecanismo, ao menos neste resumo do Chat GPT, por enquanto. Igualmente, a força atrativa poderia ser um modo de entender a reflexividade monádica, ou mesmo a interpretação subjetiva da representação. Então, se eu poupo gastos e faço investimentos, estou atraindo a riqueza como efeito dessa ação que por sua vez foi produzida por um pensamento positivo ligado à idéia do enriquecimento. Isto vale para Byrne? Ou só valeria como Lei da Atração eu meramente pensar que enriquecerei, e independente do meu esforço o efeito se seguirá? Isto ainda não está claro. Por outro lado, se a minha força interior produz a minha realidade como criação pura, isto é fato numa determinada interpretação, mas eu já poderia fazer isto agora, ou é apenas uma potência que um dia poderia ser ativada? E, ainda, na linha da subjetividade, se eu tenho uma omelete no prato, posso considerar-me pobre comparando-me com o outro que tem um filé mignon, mas posso considerar-me rico comparando-me com o outro que não tem nada. Essa interpretação da representação da realidade também é um modo de atrair o positivo com o pensamento? Não está claro.
Essa concepção implica uma redefinição radical da causalidade. Em O Segredo, a causa última dos acontecimentos não reside em fatores externos — econômicos, sociais, biológicos ou históricos — mas no domínio interno da mente e do sentimento. O indivíduo não é apenas responsável por suas escolhas morais ou comportamentais, mas por sua própria condição existencial. Prosperidade, pobreza, saúde e doença aparecem, nesse quadro, como efeitos diretos de estados mentais prolongados. A realidade objetiva perde sua autonomia ontológica e torna-se dependente da disposição subjetiva do observador.
Novamente, diz-se que o interior produz o exterior, mas não se diz claramente como isso acontece. Qual é o dispositivo da força de atração? Se a causa é interior, e a realidade do mundo é produzida por esta causa, de que modo isso acontece? Por enquanto as nossas quatro hipóteses de interpretação continuam igualmente viáveis. O que é dito, porém, sobre a realidade perder “autonomia ontológica”, parece desprezar o primeiro tipo de interpretação, mas ainda não é possível fazer esse descarte, porque autonomia poderia significar simplesmente impossibilidade de afetação, de modo que uma força suficiente poderia continuar modificando a realidade em alguma medida, mesmo que através somente de ações ordinárias.
A obra desenvolve essa visão por meio de uma ontologia implícita que pode ser descrita como um idealismo espiritualizado. O mundo não é negado em sua existência, mas é esvaziado de causalidade própria; ele passa a funcionar como um campo passivo de resposta às vibrações humanas. Ainda que Byrne recorra frequentemente a uma linguagem que evoca a física moderna — sobretudo a física quântica —, o uso desses conceitos é metafórico e retórico, não técnico. Termos como “energia”, “frequência” e “vibração” são empregados para conferir à tese uma aparência de cientificidade, embora permaneçam desvinculados de qualquer formulação rigorosa ou verificável nos termos das ciências naturais.
De acordo com essa interpretação do Chat GPT, a Lei da Atração não tem rigor suficiente para ser verificada na sua integridade, ou nem mesmo para avaliar o tipo de solução entre os quatro modelos de interpretação que sugeri. Não adianta afirmar que a causalidade é afetada de dentro para fora, se não for afirmado como isso se dá. Novamente: é pela ação ordinária? É por uma ação extraordinária? É pela geração totalmente dependente como reflexo monádico? É pela modificação do sentido da representação? Foi mencionado o uso de idéias ou termos da física quântica, o que é um procedimento típico da autoajuda contemporânea, temperada pela ideologia da Nova Era. Rigorosamente, porém, isto não significa nada se os termos não forem preenchidos com sentido de modo que saibamos o quê causa o quê e de que modo.
Do ponto de vista epistemológico, O Segredo propõe uma forma de conhecimento que não se fundamenta na observação empírica sistemática nem na argumentação lógica formal, mas na autoridade de testemunhos, exemplos de sucesso e narrativas inspiradoras. A verdade da Lei da Atração é afirmada menos como algo a ser demonstrado e mais como algo a ser reconhecido intuitivamente pelo leitor, a partir da promessa de transformação pessoal. O critério de validação não é a coerência teórica nem a correspondência com dados objetivos, mas a eficácia subjetiva: se o leitor acredita e aplica, a lei se tornaria verdadeira em sua própria vida.
Assim sendo, por qualquer meio que a Lei da Atração pudesse ser verdadeira, bastasse que alguém acreditasse nela e produzisse um efeito vinculado a esta causa, para que a sua veracidade fosse verificada. É um meio muito indevido de se checar a verdade de uma tese nas suas razões últimas, mas não de todo impraticável, até porque o poder da crença humana é muito forte, e a vontade de validar uma escolha prévia é capaz de racionalizar as interpretações que forem necessárias para verificar retroativamente a qualidade da tese acreditada. Em suma, por quaisquer meios escolhidos para se operar a tal Lei da Atração, a escolha de acreditar nessa verdade é capaz de ser forte o suficiente para criar as justificativas necessárias ao reconhecimento da sua validade. Mas, como já dito, infelizmente isso não ajuda a reconhecer uma verdade no seu âmbito próprio, ou seja, independente do nosso desejo. Por exemplo, quando falamos da Lei da Gravidade, isto significa algo mais que a Lei da Atração, mesmo que as causas últimas da gravitação ainda não estejam claras, pelo simples fato de que o efeito da Lei da Gravidade segue às suas alegadas causas quer queiramos, quer não queiramos. Isto é, porque um corpo pesado tende a cair independentemente de nossa crença na Lei da Gravidade, é mais propício chamar a esta de uma Lei, do que a Lei da Atração que depende de uma interpretação totalmente submetida ao capricho da vontade humana.
A dimensão prática do livro decorre diretamente dessa concepção. Byrne apresenta um método simples, estruturado em torno da formulação clara de desejos, da crença absoluta em sua realização e da disposição emocional de gratidão antecipada. Visualizações mentais, afirmações repetidas e exercícios de foco emocional são recomendados como meios de alinhar o indivíduo com a frequência desejada. A ação concreta no mundo não é negada, mas ocupa um lugar secundário; o elemento decisivo permanece sendo o estado interior. Agir sem alinhar pensamentos e sentimentos seria, segundo a lógica da obra, ineficaz ou até contraproducente.
Mas agir sem pensar e sentir, antes de ser ineficaz ou contraproducente, é na verdade impossível. Talvez o sentido da prática sugerida pela autora seja o de um reconhecimento dos estados interiores, de um processo de aumento da autoconsciência. Ou seja, não só pensar e sentir, mas assumir os pensamentos e sentimentos, e ter o seu controle. Se for isto, é claro que sempre produzirá efeitos positivos, inclusive na capacidade de modificar a ação eficaz no mundo, ou de melhorar a interpretação daquilo que é representado na experiência do mundo. Porém, isto não teria nada a ver com o alinhamento de estados interiores com vibrações energéticas, etc. É algo muito mais simples, menos arcano e misterioso: é a tomada de posse da consciência por si mesma, a capacidade de explorar a vida interior, assumir responsabilidades, etc. Isto tudo tem efeito por razões psicológicas e espirituais bem precisas, mas que a autora parece não reconhecer. Seguindo nesta linha, pareceria uma apelação para um caráter fetichista, idólatra e supersticioso do ser humano para fazer ter efeito um dispositivo que é psiquicamente ou espiritualmente menos exótico ou esotérico, isto é, o funcionamento regular da psique humana. Como se fosse necessário atribuir poderes mágicos misteriosos para fazer um ser humano simplesmente assumir um nível mínimo de autocontrole e autodomínio dos seus estados interiores, o que é algo um tanto patético, mas compreensível, se for este o caso.
As implicações éticas dessa visão são profundas e ambíguas. Por um lado, O Segredo promove uma ética da responsabilidade pessoal extrema, na qual o indivíduo é convidado a assumir controle total sobre sua vida interior e, por extensão, sobre seu destino. Essa perspectiva pode ser empoderadora para alguns leitores, ao estimular autoconfiança, disciplina mental e esperança. Por outro lado, ela introduz um risco moral significativo: ao atribuir todos os resultados da vida à vibração mental do sujeito, o livro tende a transformar o sofrimento em falha pessoal e a desconsiderar completamente as determinações estruturais que moldam a existência humana.
Finalmente gostei de uma interpretação do próprio Chat GPT, embora eu não tenha pedido por isso especificamente. De fato, sophrosyne ou enkrateia não farão mal a ninguém, se esta for a idéia consequente da aplicação da Lei da Atração. Porém, nós lidamos justamente com uma realidade que ultrapassa de muito o nosso poder de controle, tanto por indiferença e hostilidade da parte da Natureza, quanto por conflitos de interesses com relação ao restante da Humanidade. Como se lidar com tudo isto que não se sujeita à aplicação da Lei de Atração? Existe um ponto de equilíbrio? Existe um limite? Existe uma concórdia entre o sujeito, a natureza, e o próximo? Para mim é muito mais importante saber qual é a reação diante do Limite, seja ele experimentado da maneira que for, do que a ampliação da possibilidade atual de ação dentro do Limite, pois a nossa relação com o que transcende o Limite é justamente a nossa vida interior diante de Deus, na Presença. Neste sentido, independentemente da interpretação final que se daria para o que é a Lei da Atração, parece que a motivação para essa busca nunca é boa, porque é um novo tipo de Gnose, uma busca pelo Poder de modificar a realidade, ao invés de se relacionar com o Criador que tem o verdadeiro Poder sem limites. Estou mais interessado numa Lei de Comunhão ou Lei do Amor, do que na Lei da Atração. Afinal, se pelo efeito da Graça o meu bem próprio é provido pelo Amor divino de um Deus que ultrapassa todos os meus limites próprios, que outro Poder seria suficiente para alcançar esse nível de benefício?
Do ponto de vista filosófico mais rigoroso, essa posição aproxima-se de um subjetivismo radical, no qual a distinção entre mundo interno e mundo externo é dissolvida de maneira simplista. Diferentemente de tradições idealistas clássicas — como as de Kant, Fichte ou mesmo Berkeley —, O Segredo não enfrenta os problemas conceituais inerentes à relação entre consciência e realidade. A mente é simplesmente declarada causalmente soberana, sem mediações, limites ou condições. Não há espaço para a contingência, para o trágico, para o acaso ou para a alteridade do mundo.
Curiosa essa escolha de menções filosóficas da parte do Chat GPT. Parece que agora ele decidiu criar uma memória espontânea a respeito do que me interessa. Seja como for, meu problema não é a falta de espaço para tragédia nem acaso, e nem entendo que um subjetivismo radical seja algo indevido. A questão que fica é a do sentido maior dessa relação entre o sujeito e a representação, isto sim, como foi sugerido: “problemas conceituais inerentes à relação entre consciência e realidade”. Entendo que O Segredo não é uma obra filosófica, e nem psicológica. Não pretende explicar a realidade de fato, e nem entender como a psique opera a representação do real. O único propósito aparente desta obra é o de oferecer algum poder ao leitor, e fazer com que este se empolgue o suficiente nesta crença a ponto de justificar retroativamente a validade da Lei da Atração com qualquer interpretação que convenha para não se ter que rejeitar a sua hipótese. É como um jogo no qual a autora conta com a estupidez dos seus leitores para ter sucesso, bem ao modo de como este mundo costuma funcionar.
Em sua formulação final, a tese de Byrne implica uma concepção absoluta de livre-arbítrio mental. Se tudo aquilo que ocorre é resultado de pensamentos anteriores, então o fracasso, a doença e a perda tornam-se indícios de desalinhamento interior. Essa lógica pode gerar não apenas frustração, mas também culpa e negação da realidade concreta, sobretudo em contextos de sofrimento profundo. O livro não oferece instrumentos conceituais para lidar com essas situações; limita-se a reiterar que a correção do pensamento é sempre suficiente.
Isto não chega a ser um testemunho do Espírito do Terror, ou Pacto com o Inferno, mas também não possui nenhuma indicação do Dom da Paixão, que é o modo espiritual apropriado para se lidar com o sofrimento de qualquer natureza. Por outro lado, dá-se a impressão de alguma contabilidade cármica, se todo o sofrimento atual puder ser vinculado a uma vibração energética anterior, ou de dívida espiritual com o divino, como os amigos de Jó lhe sugeriam. O que é sempre uma crença em si mesma negativa. Mas não vale a pena querer se aprofundar nisto, pois ainda restam questões filosóficas e teológicas mais elementares como, por exemplo, o modo de efetividade mútua dos múltiplos seres humanos. Quem vence? Aquele que tem a vontade mais forte? Se não temos a solução disto, muito menos faz sentido nos preocuparmos com a origem dos sofrimentos atuais, pois nunca poderíamos determinar a origem definitiva da vibração que causou determinado efeito.
Assim, O Segredo pode ser compreendido como um produto típico da espiritualidade contemporânea de mercado: uma síntese de misticismo, psicologia popular e retórica científica, apresentada de forma acessível e altamente sedutora. Seu sucesso não se deve à robustez teórica de suas teses, mas à promessa de sentido, controle e esperança em um mundo marcado pela incerteza. Lido criticamente, o livro revela menos uma lei universal da realidade e mais um desejo cultural profundo: o de que o mundo seja, em última instância, obediente à vontade individual.
Eu não teria muito a acrescentar à conclusão do Chat GPT. Na falta de uma espiritualidade mais robusta –por culpa certamente da desmoralização e incompetência da Religião–, sobra espaço para esses produtos inferiores que enganam pessoas iludidas e sem rumo.
De modo geral parece que O Segredo é uma doutrina demoníaca que pretende trocar a Graça de Deus por uma Gnose que será descoberta e que nos permitirá salvarmo-nos a nós mesmos por reconhecermos que já somos como deuses, exatamente como a Serpente sugeriu para Adão e Eva no mito do Gênesis. Não há muita diferença entre isto e a iniciação dos satanistas da Thelema de Crowley, por exemplo. Por outro lado, a Revelação do Evangelho é que nós podemos nos tornar como deuses nos tornando filhos adotivos de Deus através da comunhão espiritual com Jesus Cristo, imitando sua humildade, mansidão e bondade. O caminho para o verdadeiro Poder é o Amor, porque essa é a essência divina. Em outros termos, como já escrevi antes num livro: a humildade é a chave do coração, o coração é a chave do amor, e o amor é a chave da vida.
Nota espiritual: 3,6 (Moriquendi)
| Humildade/Presunção | 3 |
| Presença/Idolatria | 4 |
| Louvor/Sedução-Pacto com a Morte | 4 |
| Paixão/Terror-Pacto com o Inferno | 5 |
| Soberania/Gnosticismo | 5 |
| Vigilância/Ingenuidade | 2 |
| Discernimento/Psiquismo | 2 |
| Nota final | 3,6 |